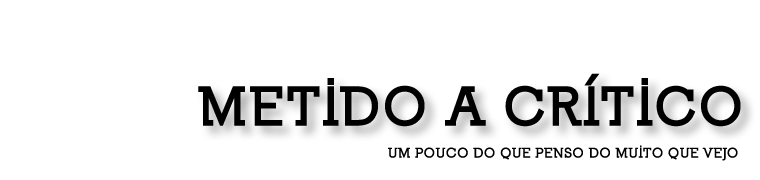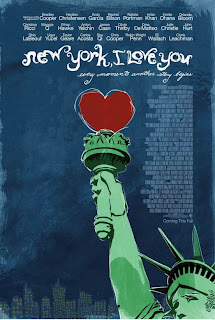A essa altura, todo mundo que queria assistir Inglorious Basterds já assistiu. Quem não assistiu mas é fã de cinema, precisa se levantar da cadeira e assistir já. Não esperem o lançamento em DVD. O filme é bom demais para ser relegado a uma televisão, por melhor que ela seja.
Quentin Tarantino é, seguramente, o maior diretor pop que existe e, talvez, um dos grandes diretores do cinema moderno. Seus clássicos Reservoir Dogs (Cães de Aluguel) e Pulp Fiction, são filmes com lugares garantidos na história do cinema. Os dois Kill Bill mostram a versatilidade de Tarantino em misturar gêneros, dos filmes de kung-fu trash da década de 60 e 70 até os westerns Spaghetti. A capacidade do diretor em criar diálogos e dirigir atores é algo fora do comum. Ok, é bem verdade que alguns detratores dizem que ele simplesmente copia outros filmes. É verdade, sem dúvida. Mas copiar vários filmes ao mesmo tempo, misturando-os em uma estória só ao ponto de imprimir-lhes vida própria, personalidade própria, só Quentin Tarantino consegue fazer. Mesmo seus filmes mais fracos - em minha opinião Jackie Brown e Death Proof que mesmo assim são acima da média do que vemos por aí - são um primor de construção de personagens e de roteiro.
Inglorious Basterds, sua mais recente obra, talvez seja o ápice de sua carreira. Pulp Fiction já é para mim um dos melhores filmes que já vi (minha lista é grande e variada, posso garantir) mas, com Inglorious Basterds, Tarantino conseguiu talvez se superar.
O filme é, em linhas gerais, uma comédia. Uma comédia com violência e com momentos extremamente aflitivos mas, de toda forma, uma comédia. É, também, assim como Kill Bill, um filme de vingança mas em um patamar muito mais elevado em que se tenta servi-la aos nazistas, da pior forma possível.
O filme é contado em capítulos sendo que cada capítulo corresponde a um longo e magnífico diálogo, durante os quais os personagens estão normalmente sentados à mesa. O diálogo de abertura, que logo de cara nos remete aos westerns de Sergio Leone, até pelo uso de trilhas de Ennio Morricone, é visceral, torturante, mas apresentado de forma bela e ao mesmo tempo aterrorizante. E isso porque eu classifiquei o filme de comédia!
A estória pouco importa mas vamos lá. Em capítulos cronológicos, Tarantino nos conta duas estórias paralelas com um final em comum. A primeira delas é a dos Bastardos do título, judeus americanos que se infiltram nas linhas nazistas, comandados pelo tenente Aldo Raine, um soldado sulista vivido por Brad Pitt. Dentre os Bastardos, temos pessoas conhecidas como "Bearjew" (vivido pelo diretor de filmes de terror Eli Roth), por exemplo, que gosta de esmagar crânios nazistas com um taco de baseball. O objetivo dos Bastardos é, unicamente, aterrorizar os soldados nazistas usando técnicas pouco usuais de combate, como, por exemplo, escalpelar todas as suas vítimas.
No outro espectro, temos a segunda estória, também de vingança. Shosanna Dreyfuss (Mélanie Laurent), judia que escapa do massacre de sua família, vai para Paris onde assume outra identidade e passa a cuidar de um cinema. Por várias circunstâncias, o cinema acaba sendo escolhido como local da première de um filme nazista e ela trama acabar com todos os presentes.
Como eu disse, as duas estórias realmente correm paralelas e nunca se tocam. As únicas coisa em comum é o tema vingança e o local final. Poder-se-ia dizer que o filme é apenas metade sobre os Bastardos mas isso seria uma mentira. Há um fator humano que ainda não computei mas que precisa ser computado: o ator austríaco Christoph Waltz no memorável papel do Coronel nazista Hans Landa. Esse é o personagem que efetivamente costura as duas estórias paralelas.
Tarantino, de forma brilhante, optou pelo uso caricato de seus personagens: Mélanie Laurent faz uma francesa blasé, Brad Pitt faz um soldado "super"-sulista, os ingles são todos, digamos "ingleses" e por aí vai. O objetivo disso foi criar um palco para Christoph Waltz, um brilhante ator, que desde já eu digo, merece um Oscar. O cara é tão bom, mas tão bom, que, apesar de ser diabolicamente mau, é impossível não torcer por ele. A profundidade do personagem, claro ajudado pelos sensacionais diálogos de Tarantino, já o torna, automaticamente, um clássico. A facilidade com que Waltz pula de uma língua para outra, absorvendo até os trejeitos dos nativos do país, o separam das celebridades que vemos por aí que, quando falam em algum língua que não seja a sua de nascença, ou o fazem com um horrendo sotaque, ou são muito limitados pois se restringem a despejar diante da câmera aquilo que acabaram de decorar.
Assim, na verdade, Inglorious Basterds é um filme em três: um sobre os Bastardos, outro sobre Shosana e um terceiro, muito mais interessante, sobre Hans Landa, o assassino cruel que, tenho que confessar, amei odiar. Não é à toa que escolhi o poster acima para ilustrar essa crítica.
Mas eu não poderia encerrar meus comentários sem falar do amor de Tarantino pelo cinema. Seus filmes todos são homenagens a diversos estilos cinematográficos e a grandes - e pequenas - obras da Sétima Arte. Inglorious Basterds não é diferente. Faz referências a westerns de John Ford e de Sergio Leone e a filmes de guerra como 12 Condenados, tem seu título retirado da versão em inglês do filme italiano Quel Maledetto Treno Blindatto de 1978, tem inspirações do cinema francês. Além disso, se despirmos o filme do seu mote de vingança, temos um filme que é sobre a estréia de um outro filme, feito pela UFA de Goebbels e tendo com um dos principais personagens uma atriz alemã que é espiã dos ingleses (Diane Kruger no papel de Bridget Von Hammersmark. Além disso há as pontas famosas, como Mike Myers para ficar no mais óbvio e Rod Taylor (do clássico The Time Machine) para ficar no mais obscuro. Ah, já ia me esquecendo, há dois atores tarantinescos que emprestam apenas suas vozes ao filme. Tentem descobrir quem são sem pesquisar na internet.
Em suma, uma obra prima que satisfaz em todos os níveis. Preciso ver de novo, no cinema, antes de comprar o Blu-Ray e assistir outras 10 vezes...
Nota: 10 de 10
sábado, 31 de outubro de 2009
domingo, 25 de outubro de 2009
Crítica de show: Lord of the Rings: Fellowship of the Rings in Concert no Radio City Music Hall
Apesar de toda a tecnologia hoje disponível, algumas experiências audiovisuais ainda não são passíveis de serem reproduzidas com qualidade em casa. Experimentar uma música ou um filme são experiências que já se tornaram, de uma forma ou de outra, "lugar comum" em casa. Home theaters cada vez mais incrementados permitem a reprodução quase que idêntica da experiência de escutar música ao vivo ou de ver um filme no cinema. Eu mesmo, defensor árduo da experiência de ir ao cinema, já abro mão de várias oportunidades para assim fazer, na expectativa de, em alguns poucos meses, assistir ao filme em Blu-Ray.
Quando estive em Nova York há duas semanas, porém, tive a oportunidade de assisitir a uma dessas experiências que não são passíveis de ser reproduzidas ou mesmo minimamente emuladas no conforto do lar. Foi o concerto da trilha sonora do filme Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring com o próprio filme ao fundo, no famoso Radio City Music Hall.
Não se tratou de uma orquestra tocando a trilha sonora da forma contida no CD, com apenas algumas cenas do filme ao fundo. Isso poderia ser, em tese, reproduzido em casa. O que vi foi a fantástica orquestra intitulada 21st Century Symphony Orchestra mais os corais The Collegiate Chorale e Brooklyn Youth Chorus e mais a solista Kaitlyn Lusk regidos pelo maestro suíço Ludwig Wicki, tocando, no tempo do filme, a trilha sonora composta por Howard Shore. Ao todo, era mais de 300 pessoas no enorme palco do Radio City Music Hall, por toda a duração do filme (versão cinematográfica, não a versão mais longa do diretor), com um enorme telão em que o filme era projetado. Tudo isso, claro, no famoso Radio City Music Hall em NY.
Como o importante era a trilha sonora sendo executada ao vivo, as vozes e demais efeitos do filme foram levemente diminuídos de forma que fosse possível ser engolido pela orquestra, especialmente, nos grandes momentos da obra de Peter Jackson. Mas, espertamente, de forma que ninguém perdesse nada, o filme foi projetado com legendas em inglês.
Talvez pela solenidade da ocasião, não encontrei muita gente fantasiada. Além de alguns casacos ou camisetas com o logotipo do filme ou da peça de teatro (que não é baseada no filme, mas sim nos livros), vi apenas um Gandalf e um Bilbo Baggins. Tem sempre alguém disposto a "pagar mico" numa hora dessas.
Antes de iniciado o show, Howard Shore em pessoa dedicou uma hora aos fãs, conversando com o músico e escritor Doug Adams (foto acima), que lançará no começo no ano que vem o livro The Music of the Lord of the Rings Films. A conversa não teve nada especial mas foi um presente bacana aos fãs que, àquela hora, estavam no processo de chegar ao Radio City e se acomodar.
Finda a conversa, às 19:30 em ponto o concerto começou, para o delírio do pessoal. Ludwig Wicki regia a orquestra com perfeição, usando uma tela menor, em sua frente, com o filme e com "deixas" digitais para ele saber quando parar ou mudar alguma coisa. Não houve falhas. Tudo correu na maior perfeição e, apesar de não ser grande conhecedor de música, imagino que fazer o que ele e a orquestra fizeram não deve ser fácil pois a música como está em um filme nunca é completa e começa e acaba de forma repentina. Brilhante.
Vale apenas lembrar que apenas a música da trilha sonora foi tocada, com uma exceção: o lamento por Gandalf que a solista cantou ao vivo. De resto, as músicas ouvidas pelos personagens no filme, como os tambores nas Minas de Moria, vinham apenas do filme projetado.
Ao final (final mesmo pois até as músicas dos créditos foram executadas), a orquestra, o maestro e Howard Shore foram aplaudidos de pé por longos minutos. Em seguida, Shore ainda ficou mais um tempo autografando os programas e CDs dos fãs.
Nos dias 08 e 09 de outubro de 2010, no mesmo local, haverá a segunda parte desse show, com a música de The Two Towers. Não sei por que, mas acho que estarei em NY nesses dias...
Nota: 10 de 10
Quando estive em Nova York há duas semanas, porém, tive a oportunidade de assisitir a uma dessas experiências que não são passíveis de ser reproduzidas ou mesmo minimamente emuladas no conforto do lar. Foi o concerto da trilha sonora do filme Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring com o próprio filme ao fundo, no famoso Radio City Music Hall.
Não se tratou de uma orquestra tocando a trilha sonora da forma contida no CD, com apenas algumas cenas do filme ao fundo. Isso poderia ser, em tese, reproduzido em casa. O que vi foi a fantástica orquestra intitulada 21st Century Symphony Orchestra mais os corais The Collegiate Chorale e Brooklyn Youth Chorus e mais a solista Kaitlyn Lusk regidos pelo maestro suíço Ludwig Wicki, tocando, no tempo do filme, a trilha sonora composta por Howard Shore. Ao todo, era mais de 300 pessoas no enorme palco do Radio City Music Hall, por toda a duração do filme (versão cinematográfica, não a versão mais longa do diretor), com um enorme telão em que o filme era projetado. Tudo isso, claro, no famoso Radio City Music Hall em NY.
Como o importante era a trilha sonora sendo executada ao vivo, as vozes e demais efeitos do filme foram levemente diminuídos de forma que fosse possível ser engolido pela orquestra, especialmente, nos grandes momentos da obra de Peter Jackson. Mas, espertamente, de forma que ninguém perdesse nada, o filme foi projetado com legendas em inglês.
Talvez pela solenidade da ocasião, não encontrei muita gente fantasiada. Além de alguns casacos ou camisetas com o logotipo do filme ou da peça de teatro (que não é baseada no filme, mas sim nos livros), vi apenas um Gandalf e um Bilbo Baggins. Tem sempre alguém disposto a "pagar mico" numa hora dessas.
Antes de iniciado o show, Howard Shore em pessoa dedicou uma hora aos fãs, conversando com o músico e escritor Doug Adams (foto acima), que lançará no começo no ano que vem o livro The Music of the Lord of the Rings Films. A conversa não teve nada especial mas foi um presente bacana aos fãs que, àquela hora, estavam no processo de chegar ao Radio City e se acomodar.
Finda a conversa, às 19:30 em ponto o concerto começou, para o delírio do pessoal. Ludwig Wicki regia a orquestra com perfeição, usando uma tela menor, em sua frente, com o filme e com "deixas" digitais para ele saber quando parar ou mudar alguma coisa. Não houve falhas. Tudo correu na maior perfeição e, apesar de não ser grande conhecedor de música, imagino que fazer o que ele e a orquestra fizeram não deve ser fácil pois a música como está em um filme nunca é completa e começa e acaba de forma repentina. Brilhante.
Vale apenas lembrar que apenas a música da trilha sonora foi tocada, com uma exceção: o lamento por Gandalf que a solista cantou ao vivo. De resto, as músicas ouvidas pelos personagens no filme, como os tambores nas Minas de Moria, vinham apenas do filme projetado.
Ao final (final mesmo pois até as músicas dos créditos foram executadas), a orquestra, o maestro e Howard Shore foram aplaudidos de pé por longos minutos. Em seguida, Shore ainda ficou mais um tempo autografando os programas e CDs dos fãs.
Nos dias 08 e 09 de outubro de 2010, no mesmo local, haverá a segunda parte desse show, com a música de The Two Towers. Não sei por que, mas acho que estarei em NY nesses dias...
Nota: 10 de 10
quarta-feira, 21 de outubro de 2009
Crítica de filme: Jennifer's Body (Garota Infernal)
Estava eu em Nova York quando reparei que era o fim de semana de estréia de Paranormal Activity, o tal filme que, dizem, foi feito por 15 mil dólares e que está se tornando o novo Bruxa de Blair. Saí lá meio abobalhado após o sensacional show ao vivo do Senhor dos Anéis no Radio City Music Hall (conto sobre isso outro dia, prometo) e fui tentar comprar um ingresso para alguma sessão perto da meia-noite. Mal eu sabia que o filme havia se tornado "O FILME" e todo mundo na cidade parecia querer vê-lo. Assim, dei de cara com as sessões de 23:45, 00:15, 00:30 e 01:00 completamente esgotadas.
Diante disso, não me restou alternativa que não comprar um ingresso para algum outro filme mais ou menos no mesmo horário que eu ainda não tivesse visto e que tivesse o mínimo interesse em ver. Jennifer's Body logo saltou aos olhos. Afinal, era um filme protagonizado pela beldade do momento: Megan Fox.
Bom, posso dizer o seguinte: apesar da presença de Megan Fox, um atrativo inegável, devia mesmo é ter ido para o hotel dormir. Êta filminho ruim...
E olha que a premissa era de fato minimamente interessante. Roteirizado por Diablo Cody, que escreveu o ótimo Juno, Jennifer's Body conta a estória de Jennifer (Megan Fox), uma líder de torcida escultural que é possuída por um demônio e passa a matar todos os garotos que consegue atrair para sua armadilhas sexuais. Tinha tudo para ser um filme no mínimo bom: uma excelente roteirista, uma atriz conhecida por seus predicados, digamos, físicos e uma estória de monstro com muito sangue.
No entanto, o "santo" que baixou em Diablo Cody ao escrever Juno já não está mais lá ou, então, Cody estava de palhaçada. O roteiro é tão ruim, tão "mão pesada" que torna o filme um festival de vômitos pretos e sanguinolência sem qualquer propósito. Aliás, minto, Diablo Cody imaginou uma breve cena de lesbianismo e acho que podia escrever um filme ao redor disso... Não tinha direção que salvasse isso e o fato de Karyn Kusama - a diretora - só ter em seu currículo o mediano para fraco Aeon Flux, de 2005, não ajudou em absolutamente nada.
Para se ter uma idéia, o roteiro é tão imbecil que conseguiu tornar Megan Fox, uma mulher inegavelmente sexy, em um garotinha qualquer, sem a menor graça no contexto geral. Em comparação, os dois Transformers (aqui os comentários do segundo) do também "mão pesada" Michael Bay, exalam sensualidade ao mostrar Fox. Jennifer's Body, em seu turno, exala total indiferença e muitos bocejos, muitos mesmo. Amanda Seyfried, atriz de Mamma Mia!, faz Needy, a melhor amiga de Jennifer e Amanda, bem sem graça, nesse filme está muito, mas muito mais atraente que Megan.
Sei que estou falando demais do quão pouco sexy está Megan Fox nesse filme mas venhamos e convenhamos, ninguém espera da moça uma grande atuação. Da mesma forma, ninguém espera de um filme com a premissa acima algo mais do que uma diversão rápida. No entanto, Diablo Cody, ao retirar os dois elementos de atração desse filme - a sensualidade de Megan Fox e a diversão - acabam com qualquer chance do filme ser um mínimo de razoável.
Definitivamente, devia ter voltado para o hotel...
Nota: 1 de 10
Diante disso, não me restou alternativa que não comprar um ingresso para algum outro filme mais ou menos no mesmo horário que eu ainda não tivesse visto e que tivesse o mínimo interesse em ver. Jennifer's Body logo saltou aos olhos. Afinal, era um filme protagonizado pela beldade do momento: Megan Fox.
Bom, posso dizer o seguinte: apesar da presença de Megan Fox, um atrativo inegável, devia mesmo é ter ido para o hotel dormir. Êta filminho ruim...
E olha que a premissa era de fato minimamente interessante. Roteirizado por Diablo Cody, que escreveu o ótimo Juno, Jennifer's Body conta a estória de Jennifer (Megan Fox), uma líder de torcida escultural que é possuída por um demônio e passa a matar todos os garotos que consegue atrair para sua armadilhas sexuais. Tinha tudo para ser um filme no mínimo bom: uma excelente roteirista, uma atriz conhecida por seus predicados, digamos, físicos e uma estória de monstro com muito sangue.
No entanto, o "santo" que baixou em Diablo Cody ao escrever Juno já não está mais lá ou, então, Cody estava de palhaçada. O roteiro é tão ruim, tão "mão pesada" que torna o filme um festival de vômitos pretos e sanguinolência sem qualquer propósito. Aliás, minto, Diablo Cody imaginou uma breve cena de lesbianismo e acho que podia escrever um filme ao redor disso... Não tinha direção que salvasse isso e o fato de Karyn Kusama - a diretora - só ter em seu currículo o mediano para fraco Aeon Flux, de 2005, não ajudou em absolutamente nada.
Para se ter uma idéia, o roteiro é tão imbecil que conseguiu tornar Megan Fox, uma mulher inegavelmente sexy, em um garotinha qualquer, sem a menor graça no contexto geral. Em comparação, os dois Transformers (aqui os comentários do segundo) do também "mão pesada" Michael Bay, exalam sensualidade ao mostrar Fox. Jennifer's Body, em seu turno, exala total indiferença e muitos bocejos, muitos mesmo. Amanda Seyfried, atriz de Mamma Mia!, faz Needy, a melhor amiga de Jennifer e Amanda, bem sem graça, nesse filme está muito, mas muito mais atraente que Megan.
Sei que estou falando demais do quão pouco sexy está Megan Fox nesse filme mas venhamos e convenhamos, ninguém espera da moça uma grande atuação. Da mesma forma, ninguém espera de um filme com a premissa acima algo mais do que uma diversão rápida. No entanto, Diablo Cody, ao retirar os dois elementos de atração desse filme - a sensualidade de Megan Fox e a diversão - acabam com qualquer chance do filme ser um mínimo de razoável.
Definitivamente, devia ter voltado para o hotel...
Nota: 1 de 10
domingo, 11 de outubro de 2009
Crítica de filme: Zombieland
Filmes sobre zumbis são, basicamente, iguais. Por alguma razão toda a população do planeta foi infectada e uma meia dúzia de sobreviventes tentam, humm, sobreviver. O que tornou os filmes de zumbis um gênero em si mesmo foi a brilhante direção de George A. Romero, ao inserir fortes críticas sociais no gênero. É assim com todos os seus filmes e muitas outras cópias, incluindo Dawn of the Dead de 2004, dirigido pelo super eficiente Zack Snyder (300 e Watchmen). Óbvio que, para cada filme bom, vemos bombas como a série Resident Evil. Por outro lado, volta e meia vem uma nova onda de frescor ao gênero e os exemplos mais recentes disso são Shaun of the Dead e Fido.
Por acaso estive em Nova York essa semana e Zombieland havia acabado de estrear. A grande maioria das críticas foi no sentido de elogiar o filme e vou logo adiantando que a minha não destoará da maioria.
Zombieland é um filme simples de zumbis. A Terra foi tomada pelos monstros e quatro sobreviventes, dois homens e duas mulheres, dirigem pelos Estados Unidos devastados, tentando fazer o melhor que podem. Logo no início, de forma muito original e divertida, somos apresentados a Columbus, vivido pelo ótimo Jesse Eisenberg de Adventureland (que será comentado aqui em breve). Ele é o narrador e nos chama a atenção para o conjunto de regras segundo o qual vive sua vida. Uma delas, politicamente correta, é “use o cinto de segurança”. Essas regras – e variações delas - pontilharão o filme do começo ao fim, de forma muito divertida. Columbus é, na verdade, um daqueles nerds que só jogam videogames e para quem mulheres só existem na televisão. Como ele sobreviveu é um mistério mas que ele tenta explicar pela fiel obediência às regras que criou.
O segundo sobrevivente é Tallahassee, vivido pelo sensacional Woody Harrelson, de Natural Born Killers. Ele é o estereótipo do machão que adora matar os zumbis das formas mais grotescas possíveis. Sempre dirige carros possantes e tem aquela carapaça de insensível quando por dentro sabemos que ele é bem sensível (afinal, somente um cara sensível poderia passar o filme inteiro atrás de Twinkies, aquele bolinho industrializado que faz muito sucesso nos EUA). Tallahassee e Columbus logo se unem e encontram Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin de Little Miss Sunshine e Nim's Island), duas irmãs. São duas meninas que não confiam em ninguém e passaram a vida dando golpes nos outros. Não é diferente depois da praga dos zumbis e Tallahassee e Columbus aprendem da pior forma possível.
A interação dos quatro personagens é sensacional e muito engraçada. Os zumbis são meros acessórios à esse divertido quarteto, que vive como se o amanhã não existisse.
O que esse filme não tem é a crítica social. Zombieland é um filme comparável a Shaun of the Dead em termos do frescor com que nos apresenta ao tema “zumbis” mas falta o ataque direto que Shaun faz à sociedade como um todo. Zombieland, porém, tenta compensar a falta do lado “cerebral” desse tipo de filme com muitas situações de chorar de rir e com o que talvez seja o melhor uso de uma “ponta” na "História do Cinema". A cena, mais longa que uma ponta comum mas ainda sim uma ponta, é de dar câimbras na barriga de tanto rir. Não vou contar nada sobre ela mas o dinheiro que gastei com o ingresso já valeria se fosse só para assistir a esses 10 minutos. Deu vontade de ver Zombieland novamente.
Não sou um cara que gosta muito de continuações mas Zombieland 2 é um filme que quero muito ver!
Nota: 9 de 10
sexta-feira, 9 de outubro de 2009
Crítica de filme: A Serious Man (Um Homem Sério)
Não é nenhum segredo que sou fã dos irmãos Coen. Assim como quase todo mundo, eu os conheci de verdade com o brilhante Fargo. Sem saber, quando vi Fargo eu já havia visto - e adorado - Raising Arizona. Daí a eu caçar Blood Simple, Miller's Crossing, Barton Fink, The Hudsucker Proxy (que eu simplesmente adoro), The Big Lebowski (que, por incrível que pareça, é o filme que menos gosto deles), O Brother Where Art Thou, The Man Who Wasn't There, Intolerable Cruelty, The Ladykillers, No Country For Old Men e Burn After Reading foi um pulinho.
Assim, por sorte viajei a trabalho para Nova York na semana do lançamento ultra-limitado (apenas NY e LA e mesmo assim só em 2 ou 3 cinemas) do mais novo filme dos irmãos Coen: A Serious Man. Esse filme não tem nomes conhecidos como Burn After Reading mas é uma comédia de humor negro (muito negro) que trata de temas que só posso reputar são muito pessoais para os Coen. É um filme sobre família, profissão e, sobretudo, sobre a religião judaica e suas tradições.
A estória se passa em 1967 e nos conta sobre o professor Larry Gopnik, vivido por Michael Stuhlbarg (egresso da televisão - mais sobre a atuação dele para a frente). Larry está para ser efetivado como professor na escola que leciona mas sua vida começa a mudar quando sua mulher (Judith Gopnik vivida por Sari Lennick), assim como não quer nada, lhe diz que quer o divórcio e que vai se casar com Sy Ableman (Fred Melamed), um amigo da família rico e de fala mansa. Ao mesmo tempo, Larry tem que lidar com os problemas escolares de seu filho e com a mania de sua família de lavar o cabelo. Isso sem falar no fato de que seu inútil irmão, Arthur (vivido magistralmente por Richard Kind), dorme no sofá de casa, atrapalhando todo mundo.
Os irmãos Coen vão desconstruindo a vida pré-concebida de Larry aos poucos mas sempre de forma intensa, acrescentando problemas quase que de forma caricatural (tem até a vizinha que toma banho de sol nua). Larry, em vista desses terremotos, sai à procura de ajuda espiritual, conversando com três rabinos. Contar mais é estragar o filme mas basta dizer que cada rabino representa uma idade diferente, um grau de experiência diferente e, com isso, um grau de ajuda diferente. São sensacionais os diálogos de Larry com os dois primeiros rabinos e o tempo que os Coen "perdem" nos mostrando isso. A religião é parte integrante desse filme, desde seu começo, mas os irmãos Coen não estão tecendo críticas negativas ou positivas. Apenas refletem a vida, aquilo que é e que poderia ser com qualquer religião, não só a judaica.
A atuação de Michael Stuhlbarg é algo fora de série que merece a atenção de todos. Nós somos apresentados a um Larry bem de vida, tranquilo, sem maiores problemas. Ao longo do filme a transformação do personagem é chocante mas sempre sutil (talvez seja chocante POR QUE é sutil) e acabamos vendo Larry em desespero total, sem saber o que fazer e com dilemas morais gigantescos. Michael consegue transmitir esses profundos sentimentos de forma absolutamente genuína e brilhante. O filme já merece ser visto só pela atuação dele.
Uma coisa é certa: ainda que os irmãos Coen queiram mostrar que sua vida sempre pode ficar pior, é evidente que os filmes deles sempre podem ficar melhores.
Nota: 9,5 de 10
Assim, por sorte viajei a trabalho para Nova York na semana do lançamento ultra-limitado (apenas NY e LA e mesmo assim só em 2 ou 3 cinemas) do mais novo filme dos irmãos Coen: A Serious Man. Esse filme não tem nomes conhecidos como Burn After Reading mas é uma comédia de humor negro (muito negro) que trata de temas que só posso reputar são muito pessoais para os Coen. É um filme sobre família, profissão e, sobretudo, sobre a religião judaica e suas tradições.
A estória se passa em 1967 e nos conta sobre o professor Larry Gopnik, vivido por Michael Stuhlbarg (egresso da televisão - mais sobre a atuação dele para a frente). Larry está para ser efetivado como professor na escola que leciona mas sua vida começa a mudar quando sua mulher (Judith Gopnik vivida por Sari Lennick), assim como não quer nada, lhe diz que quer o divórcio e que vai se casar com Sy Ableman (Fred Melamed), um amigo da família rico e de fala mansa. Ao mesmo tempo, Larry tem que lidar com os problemas escolares de seu filho e com a mania de sua família de lavar o cabelo. Isso sem falar no fato de que seu inútil irmão, Arthur (vivido magistralmente por Richard Kind), dorme no sofá de casa, atrapalhando todo mundo.
Os irmãos Coen vão desconstruindo a vida pré-concebida de Larry aos poucos mas sempre de forma intensa, acrescentando problemas quase que de forma caricatural (tem até a vizinha que toma banho de sol nua). Larry, em vista desses terremotos, sai à procura de ajuda espiritual, conversando com três rabinos. Contar mais é estragar o filme mas basta dizer que cada rabino representa uma idade diferente, um grau de experiência diferente e, com isso, um grau de ajuda diferente. São sensacionais os diálogos de Larry com os dois primeiros rabinos e o tempo que os Coen "perdem" nos mostrando isso. A religião é parte integrante desse filme, desde seu começo, mas os irmãos Coen não estão tecendo críticas negativas ou positivas. Apenas refletem a vida, aquilo que é e que poderia ser com qualquer religião, não só a judaica.
A atuação de Michael Stuhlbarg é algo fora de série que merece a atenção de todos. Nós somos apresentados a um Larry bem de vida, tranquilo, sem maiores problemas. Ao longo do filme a transformação do personagem é chocante mas sempre sutil (talvez seja chocante POR QUE é sutil) e acabamos vendo Larry em desespero total, sem saber o que fazer e com dilemas morais gigantescos. Michael consegue transmitir esses profundos sentimentos de forma absolutamente genuína e brilhante. O filme já merece ser visto só pela atuação dele.
Uma coisa é certa: ainda que os irmãos Coen queiram mostrar que sua vida sempre pode ficar pior, é evidente que os filmes deles sempre podem ficar melhores.
Nota: 9,5 de 10
terça-feira, 6 de outubro de 2009
Crítica de filme: Cloudy With a Chance of Meatballs (Tá Chovendo Hamburguer)
Quando soube do lançamento iminente desse filme animado, baseado em livro homônimo americano para crianças, achei que não dava uma boa estória para um longa metragem. Quando vi o trailer, passei a ter certeza que o filme não seria bom: animação meio tosca e premissa idiota demais. No entanto, em um clara demonstração de falta de personalidade, comecei a ler as críticas que apareceram - em sua maioria elogiosas - e passei a querer ver, afinal, do que se tratava.
Eu sei, fui levado pelo canto da sereia...
Tá Chovendo Hamburguer conta a estória de um inventor maluco chamado Flint Lockwood. Ele mora com seu pai em um cidade em uma ilha perdida no Atlântico. Toda a vida da ilha gira em torno da pesca de sardinhas mas, com a queda do mercado desse peixe, os habitantes passam a ter que consumir o que produzem. Assim, claro, Flint inventa um aparelho que converte água em qualquer tipo de alimento: pizzas, almôndegas, hambúrguers e outros (nada saudável, aparentemente). Acontece um acidente e a maquineta vai parar literalmente nas nuvens e começa a gerar uma chuva de comida. Flint, levado pela fama instantânea e pelos pedidos do minúsculo prefeito da cidade, passa a fazer chover comida três vezes por dia. Desnecessário dizer que dá tudo errado e cabe à Flint superar seus problemas, ajudado por uma repórter bonita que esconde ser nerd e por seu pai, que não tem olhos, só sobrancelhas.
É uma estória cheia de lições de moral que atrapalham seu desenrolar e, por incrível que pareça, não são claras o suficiente para as crianças entenderem. Em cima disso, há a animação bastante simples e caricata que simplesmente não gostei. Há uns exageros interessantes como o furacão de macarrão com almôndegas e outros simplesmente ridículos como o clímax em que Flint tem que enfrentar uma versão monstruosa de sua máquina fazedora de comida.
O desenho basicamente não tem estória para se sustentar por 90 minutos e os personagens não são nada cativantes. É um tanto surreal mas não como Up e sim como um desenho ruim do tipo Looney Tunes. A Sony até já tinha feito um filme animado razoável (Surf's Up) mas sua nova tentativa não chegou nem lá. Chato para os adultos e sem sentido para as crianças.
Ah, esqueci de dizer, o filme faz uso da técnica 3D como é moda hoje em dia. Aliás, almondêngas e rosquinhas voando na direção do telespectador é prato feito (com trocadilho) para essa tecnologia. No entanto, a versão que vi foi 2D pelo que não dá para saber se o filme ficaria melhor em 3D. Eu particularmente parto da premissa que se o filme não funciona em 2D, não funcionará em 3D.
Nota: 3 de 10
segunda-feira, 5 de outubro de 2009
Festival do Rio 2009: 11 Críticas
O Festival do Rio de 2009 está acabando para mim, apesar de continuar até o dia 08 para todo mundo. É que viajo amanhã e hoje (domingo, dia 05) marcou meu décimo filme no Festival e 11º no total, contando com Coco Antes de Chanel que vi há algum tempo. Assim, apenas para resumir o que vi, seguem, abaixo, os filmes com minhas críticas, bastando clicar nos títulos para lê-las:
Os Vigaristas (The Brothers Bloom)
Distante Nós Vamos (Away We Go)
Hachiko: A Dog's Story
Nova Iorque, Eu Te Amo (New York, I Love You)
Abraços Partidos (Los Abrazos Rotos)
500 Dias Com Ela (500 Days of Summer)
12 Jurados e Uma Sentença (12 Razgnevannyh Muzhchin)
Coco Antes de Chanel (Coco Avant Chanel)
Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans
Distrito 9 (District 9)
O Desinformante! (The Informant!)
Divirtam-se e eu volto em breve com críticas de filmes que ainda demorarão um pouco para serem lançados no Brasil como A Serious Man dos irmãos Coen e Zombieland.
Os Vigaristas (The Brothers Bloom)
Distante Nós Vamos (Away We Go)
Hachiko: A Dog's Story
Nova Iorque, Eu Te Amo (New York, I Love You)
Abraços Partidos (Los Abrazos Rotos)
500 Dias Com Ela (500 Days of Summer)
12 Jurados e Uma Sentença (12 Razgnevannyh Muzhchin)
Coco Antes de Chanel (Coco Avant Chanel)
Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans
Distrito 9 (District 9)
O Desinformante! (The Informant!)
Divirtam-se e eu volto em breve com críticas de filmes que ainda demorarão um pouco para serem lançados no Brasil como A Serious Man dos irmãos Coen e Zombieland.
Crítica de filme: (500) Days of Summer (500 Dias Com Ela)
Pois bem, para mim, hoje, é o último dia do Festival do Rio 2009. Parto para Nova Iorque a trabalho amanhã. É claro que verei filmes por lá, inclusive o mais recente dos irmãos Coen, A Serious Man e o trash que chegou no topo das bilheterias esse fim-de-semana, Zombieland. Mas, fecho minhas críticas do Festival do Rio com (500) Days of Summer, uma comédia romântica que, como bem alerta o narrador no começo do filme, não é uma estória de amor.
Achava que ia encerrar o Festival de maneira apoteótica, com esse super elogiado filme indie que arrebatou os corações dos críticos. Pois é, vou nadar contra a maré, não tem jeito. (500) Days of Summer é chato que dói. Seus 95 minutos de duração pareceram 500 dias presos em Sing Sing...
Explico.
O grande "tchan" desse filme é subverter a fórmula dos filmes românticos em que a garota se apaixona pelo garoto, o garoto não liga, a garota luta, os dois se juntam, passam por problemas e os vencem ao final. O diretor estreante, Marc Webb, baseado em roteiro de Scott Neustadter e Michael H. Weber (ambos de Pink Panther 2 que não vi mas SEI que é uma porcaria) faz um filme que começa bem, mostrando que é o garoto que se apaixona pela garota. A garota não dá bola e não acredita no amor. Ele é um cachorro babão que cai de quatro por ela, acreditando piamente na existência de uma cara-metade e coisas do gênero. Essa é a grande sacada do filme, sacada essa que fica velha nos primeiros 30 minutos de projeção. Os demais 65 minutos são formados de repetições dos primeiros 30 minutos de variadas formas e de forma não cronológica no estilo Pulp Fiction. Acontece que, diferentemente de Pulp Fiction, em que a ordem não cronológica tinha uma razão de ser, em (500) Days isso é só uma macaquice, sem qualquer função na narrativa.
Fica claro que o filme é uma estória sobre a percepção de cada um sobre o amor e que isso é que é importante. No entanto, isso fica evidente na primeira meia hora desse filme mas o diretor ou não entendeu ou achou a audiência burra o suficiente para ter que ficar martelando isso a cada 10 segundos.
Sem dúvida que Zooey Deschanel está muito bem no filme no papel de Summer Finn (viram mais uma idéia genial? Summer é o nome da garota, ohhhhh....) mas não consegui me desvencilhar da imagem que tinha dela no filme Yes Man já que os papéis são basicamente iguais. Joseph Gordon-Levitt, seu par (Tom Hansen), também está legal no papel mas não é nada especial.
Queria entender o que tanto viram nesse filme. Uma pena que o Festival do Rio acabou mal para mim. Mas, nem sempre se acerta todas.
Nota: 4 de 10
Achava que ia encerrar o Festival de maneira apoteótica, com esse super elogiado filme indie que arrebatou os corações dos críticos. Pois é, vou nadar contra a maré, não tem jeito. (500) Days of Summer é chato que dói. Seus 95 minutos de duração pareceram 500 dias presos em Sing Sing...
Explico.
O grande "tchan" desse filme é subverter a fórmula dos filmes românticos em que a garota se apaixona pelo garoto, o garoto não liga, a garota luta, os dois se juntam, passam por problemas e os vencem ao final. O diretor estreante, Marc Webb, baseado em roteiro de Scott Neustadter e Michael H. Weber (ambos de Pink Panther 2 que não vi mas SEI que é uma porcaria) faz um filme que começa bem, mostrando que é o garoto que se apaixona pela garota. A garota não dá bola e não acredita no amor. Ele é um cachorro babão que cai de quatro por ela, acreditando piamente na existência de uma cara-metade e coisas do gênero. Essa é a grande sacada do filme, sacada essa que fica velha nos primeiros 30 minutos de projeção. Os demais 65 minutos são formados de repetições dos primeiros 30 minutos de variadas formas e de forma não cronológica no estilo Pulp Fiction. Acontece que, diferentemente de Pulp Fiction, em que a ordem não cronológica tinha uma razão de ser, em (500) Days isso é só uma macaquice, sem qualquer função na narrativa.
Fica claro que o filme é uma estória sobre a percepção de cada um sobre o amor e que isso é que é importante. No entanto, isso fica evidente na primeira meia hora desse filme mas o diretor ou não entendeu ou achou a audiência burra o suficiente para ter que ficar martelando isso a cada 10 segundos.
Sem dúvida que Zooey Deschanel está muito bem no filme no papel de Summer Finn (viram mais uma idéia genial? Summer é o nome da garota, ohhhhh....) mas não consegui me desvencilhar da imagem que tinha dela no filme Yes Man já que os papéis são basicamente iguais. Joseph Gordon-Levitt, seu par (Tom Hansen), também está legal no papel mas não é nada especial.
Queria entender o que tanto viram nesse filme. Uma pena que o Festival do Rio acabou mal para mim. Mas, nem sempre se acerta todas.
Nota: 4 de 10
domingo, 4 de outubro de 2009
Crítica de filmes: Los Abrazos Rotos (Abraços Partidos)
Almodóvar é sempre Almodóvar e, como tal, escolha óbvia para o Festival do Rio. Trata-se do 10º filme do Festival comentado aqui, um número bastante razoável considerando-se que faço o blog apenas por prazer, trabalho integralmente e tenho filhos. Fecharei em 11 e é tudo que posso fazer pois viajo antes do final do Festival.
Esperava algo bem Almodóvar e me deparei com algo mais, talvez o melhor filme dele, não sei. Lluís Homar vive o papel duplo de Mateo Blanco, um diretor de cinema e Harry Caine um roteirista de cinema. Há duas estórias interligadas e começamos com a de Harry Caine, um roteirista cego que logo nos explica que as coisas nem sempre foram assim. Com o desenrolar do filme, Almodóvar nos mostra que Mateo já foi Mateo, um famoso diretor que estava filmando a comédia Mujeres & Maletas, que viria a ser seu último filme nesse cargo. O filme se passa entre o começo da década de 90 em que os acontecimentos da vida do diretor Mateo se desenrolam (ou melhor, se enrolam) e hoje em dia, com Harry Caine recontando o que aconteceu. Nesse meio, há a filmagem de Mujeres & Maletas e de um estranho documentário.
Almodóvar usa e abusa da metalinguagem, do "filme dentro do filme" e, no processo, deixa às escâncaras seu amor pelo cinema. O filme é sobre filmes e tem, em seu meio, outros dois filmes sendo realizados. Chega um ponto em que é possível duvidar sobre o que efetivamente é fato e o que não é. Outro aspecto muito interessante é que o filme que Mateo filma em 1994, Mujeres & Maletas, é um típico Almodóvar em começo de carreira: cores fortes e comédia de diálogos loucos protagonizada por mulheres. O filme que assistimos, Los Abrazos Rotos, é um típico Hitchcock, com suspense, drama e trilha sonora forte, desesperante.
O que muda a vida de Mateo e acaba transformando-o em Harry é a entrada de Lena em sua vida. Lena é amante de um milionário e aspirante a atriz que quer por que quer participar do filme que Mateo começaria a filmar. Em 2008, quando o cego Harry reconta sua estória de 14 anos antes, a presença de Lena se dá apenas por fotos, o que deixa claro que algo de muito ruim provavelmente aconteceu. Lena é vivida pela musa de Almodóvar, Penélope Cruz, que faz caras e bocas de Audrey Hepburn, em um ótimo papel de muitas camadas e transformações. Talvez o filme, mais do que um filme sobre cinema, seja um filme sobre Penélope Cruz ou melhor, do caso de amor platônico (ao menos em tese) de Almodóvar pela atriz espanhola.
Seja como for, Los Abrazos Rotos é um ótimo filme que mostra um grande amadurecimento do já ótimo Almodóvar.
Nota: 8,5 de 10
Esperava algo bem Almodóvar e me deparei com algo mais, talvez o melhor filme dele, não sei. Lluís Homar vive o papel duplo de Mateo Blanco, um diretor de cinema e Harry Caine um roteirista de cinema. Há duas estórias interligadas e começamos com a de Harry Caine, um roteirista cego que logo nos explica que as coisas nem sempre foram assim. Com o desenrolar do filme, Almodóvar nos mostra que Mateo já foi Mateo, um famoso diretor que estava filmando a comédia Mujeres & Maletas, que viria a ser seu último filme nesse cargo. O filme se passa entre o começo da década de 90 em que os acontecimentos da vida do diretor Mateo se desenrolam (ou melhor, se enrolam) e hoje em dia, com Harry Caine recontando o que aconteceu. Nesse meio, há a filmagem de Mujeres & Maletas e de um estranho documentário.
Almodóvar usa e abusa da metalinguagem, do "filme dentro do filme" e, no processo, deixa às escâncaras seu amor pelo cinema. O filme é sobre filmes e tem, em seu meio, outros dois filmes sendo realizados. Chega um ponto em que é possível duvidar sobre o que efetivamente é fato e o que não é. Outro aspecto muito interessante é que o filme que Mateo filma em 1994, Mujeres & Maletas, é um típico Almodóvar em começo de carreira: cores fortes e comédia de diálogos loucos protagonizada por mulheres. O filme que assistimos, Los Abrazos Rotos, é um típico Hitchcock, com suspense, drama e trilha sonora forte, desesperante.
O que muda a vida de Mateo e acaba transformando-o em Harry é a entrada de Lena em sua vida. Lena é amante de um milionário e aspirante a atriz que quer por que quer participar do filme que Mateo começaria a filmar. Em 2008, quando o cego Harry reconta sua estória de 14 anos antes, a presença de Lena se dá apenas por fotos, o que deixa claro que algo de muito ruim provavelmente aconteceu. Lena é vivida pela musa de Almodóvar, Penélope Cruz, que faz caras e bocas de Audrey Hepburn, em um ótimo papel de muitas camadas e transformações. Talvez o filme, mais do que um filme sobre cinema, seja um filme sobre Penélope Cruz ou melhor, do caso de amor platônico (ao menos em tese) de Almodóvar pela atriz espanhola.
Seja como for, Los Abrazos Rotos é um ótimo filme que mostra um grande amadurecimento do já ótimo Almodóvar.
Nota: 8,5 de 10
sábado, 3 de outubro de 2009
Crítica de filme: New York, I Love You (Nova Iorque, Eu Te Amo)
A cidade do Rio de Janeiro foi eleita como a sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e o Brasil sediará a Copa do Mundo de 2014. Assim, nada mais óbvio do que assistir New York, I Love You para comemorar. Por quê? Oras, por que, recentemente, foi anunciado que o Rio será a terceira cidade a ser alvo dessa série de filmes-homenagem, que se iniciou com Paris, Je T'Aime. O Rio de Janeiro está com tudo e não está prosa!
NY, I Love You, assim como seu antecessor, é uma declaração de amor à cidade título. Não é, porém, um filme de paisagens, em que se foca o Empire State Building, a Estátua da Liberdade, o Central Park e símbolos do gênero. Não. São estórias mais ou menos interligadas dirigidas e estreladas por um pout-pourri de pessoas. O resultado é um filme muito interessante que não deixa de abordar os aspectos mais famosos dessa grande cidade. Para se ter uma idéia, a primeira cena do filme é uma divertida brincadeira com os táxis nova iorquinos. Eles são difíceis de pegar na hora do rush e são sempre dirigidos por indianos, turcos e outros imigrantes. Bacana.
O filme é estrelado por atores veteranos e novos em uma excelente mescla. Temos desde os sensacionais James Caan, John Hurt e Julie Christie, passando pelo ótimos Ethan Hawke, Andy Garcia, Chris Cooper e Christina Ricci até os relativamente novatos Natalie Portman (que também dirige um segmento), Shia LeBoeuf (em seu melhor papel até aqui, o que não quer dizer muito tendo em vista o tipo de filmes que costuma estrelar) e Orlando Bloom. Há muitos outros mas o destaque mesmo - e que me emocionou genuinamente - foi a participação especialíssima do ancião Eli Wallach, no alto de seus 94 anos!!! Para quem não sabe, Eli Wallach é um veterano do cinema, tendo estrelado mais de 150 filmes, dentre eles um de meus favoritos: The Good, The Bad and The Ugly (Três Homens e um Destino). Ele fez o papel de Tuco, o "The Ugly" do título. Sua participação, sozinha, já vale o preço do ingresso.
São, ao todo, 10 diretores, 8 deles não americanos (conto Natalie Portman como israelense pois, tecnicamente, ela nasceu em Israel). Isso dá uma visão cosmopolita ao filme ao mesmo tempo que nos são trazidas técnicas de direção bem diferentes e interessantes.
Acho que o filme agrada tanto pelas partes quanto pelo todo e é uma boa forma de homenagear as cidades mais importantes do mundo. Será interessante ver o Rio de Janeiro retratado nesse mesmo espírito.
Nota: 7,5 de 10
NY, I Love You, assim como seu antecessor, é uma declaração de amor à cidade título. Não é, porém, um filme de paisagens, em que se foca o Empire State Building, a Estátua da Liberdade, o Central Park e símbolos do gênero. Não. São estórias mais ou menos interligadas dirigidas e estreladas por um pout-pourri de pessoas. O resultado é um filme muito interessante que não deixa de abordar os aspectos mais famosos dessa grande cidade. Para se ter uma idéia, a primeira cena do filme é uma divertida brincadeira com os táxis nova iorquinos. Eles são difíceis de pegar na hora do rush e são sempre dirigidos por indianos, turcos e outros imigrantes. Bacana.
O filme é estrelado por atores veteranos e novos em uma excelente mescla. Temos desde os sensacionais James Caan, John Hurt e Julie Christie, passando pelo ótimos Ethan Hawke, Andy Garcia, Chris Cooper e Christina Ricci até os relativamente novatos Natalie Portman (que também dirige um segmento), Shia LeBoeuf (em seu melhor papel até aqui, o que não quer dizer muito tendo em vista o tipo de filmes que costuma estrelar) e Orlando Bloom. Há muitos outros mas o destaque mesmo - e que me emocionou genuinamente - foi a participação especialíssima do ancião Eli Wallach, no alto de seus 94 anos!!! Para quem não sabe, Eli Wallach é um veterano do cinema, tendo estrelado mais de 150 filmes, dentre eles um de meus favoritos: The Good, The Bad and The Ugly (Três Homens e um Destino). Ele fez o papel de Tuco, o "The Ugly" do título. Sua participação, sozinha, já vale o preço do ingresso.
São, ao todo, 10 diretores, 8 deles não americanos (conto Natalie Portman como israelense pois, tecnicamente, ela nasceu em Israel). Isso dá uma visão cosmopolita ao filme ao mesmo tempo que nos são trazidas técnicas de direção bem diferentes e interessantes.
Acho que o filme agrada tanto pelas partes quanto pelo todo e é uma boa forma de homenagear as cidades mais importantes do mundo. Será interessante ver o Rio de Janeiro retratado nesse mesmo espírito.
Nota: 7,5 de 10
Crítica de filme: Hachiko: A Dog's Story (Sempre ao Seu Lado)
Lasse Halström é o diretor dos ótimos Chocolat e The Cider House Rules. Ao ver que seu mais recente filme estava passando no Festival do Rio, decidi assisti-lo. Hachiko: A Dog's Story (Sempre ao Seu Lado) é um filme cuja sinopse já conta toda a estória. Talvez até por isso, resolvi descobrir como é que o diretor faria um filme minimamente interessante.
Para aqueles que não querem saber nada sobre a trama do filme, vai minha sinopse super resumida: o filme conta a estória de amor - baseada em estória verdadeira acontecida nos anos 30 no Japão - entre um homem identificado apenas como Professor (Richard Gere) e o cachorro Hachi, que ele adota ao encontrá-lo abandonado em uma estação de trem. Pronto, é isso. Quem gosta de cachorros e de um drama, deve assistir esse filme.
No entanto, o filme é super lacrimogênio. A sinopse verdadeira é:
SPOILER SPOILER SPOILER
O filme conta a estória de amor - baseada em estória verdadeira acontecida nos anos 30 no Japão - entre um homem identificado apenas como Professor (Richard Gere) e o cachorro Hachi, que ele adota ao encontrá-lo abandonado em uma estação de trem. O cachorro todo dia acompanha seu dono à estação e todo dia está lá para pegá-lo. Um dia, o Professor morre no trabalho mas Hachi passa os próximos 10 anos voltando todos os dias para a estação para esperar seu antigo dono.
Com essa sinopse, vocês podem entender por que eu chamei o filme de lacrimogênio. Quem quiser de debulhar em lágrimas vendo o leal cachorro voltando à estação todos os dias para esperar seu dono falecido, veja o filme. Quem gostar muito de filmes de cachorro e quiser chorar muito, veja o filme. Quem gostar muito do Richard Gere - que, tenho que admitir, está envelhecendo muito bem - veja o filme.
Depois da morte do Professor, o cinema todo começou a fungar e lenços de papel e de pano trocaram de mão várias vezes. Uma festa para a gripe suína...
De toda forma, ainda que a estória do cachorro (verdadeira, devo relembrar) seja realmente impressionante, o filme é só isso. Não é ruim mas apenas, digamos, vazio, sem muito mais do que o está na sinopse. Lasse Halström, para tornar o filme mais identificável com platéias ocidentais, fez o filme se passar em uma cidade americana, com um casal americano, mas deixando lá alguma coisa de oriental, como o cachorro, a coleira dele e o melhor amigo do Professor, Ken (Cary-Hiroyuki Tagawa). Ficou bacana, sem dúvida e o cachorro é realmente muito bonito mas faltou algo que não sei bem explicar.
Nota: 5 de 10
Para aqueles que não querem saber nada sobre a trama do filme, vai minha sinopse super resumida: o filme conta a estória de amor - baseada em estória verdadeira acontecida nos anos 30 no Japão - entre um homem identificado apenas como Professor (Richard Gere) e o cachorro Hachi, que ele adota ao encontrá-lo abandonado em uma estação de trem. Pronto, é isso. Quem gosta de cachorros e de um drama, deve assistir esse filme.
No entanto, o filme é super lacrimogênio. A sinopse verdadeira é:
SPOILER SPOILER SPOILER
O filme conta a estória de amor - baseada em estória verdadeira acontecida nos anos 30 no Japão - entre um homem identificado apenas como Professor (Richard Gere) e o cachorro Hachi, que ele adota ao encontrá-lo abandonado em uma estação de trem. O cachorro todo dia acompanha seu dono à estação e todo dia está lá para pegá-lo. Um dia, o Professor morre no trabalho mas Hachi passa os próximos 10 anos voltando todos os dias para a estação para esperar seu antigo dono.
Com essa sinopse, vocês podem entender por que eu chamei o filme de lacrimogênio. Quem quiser de debulhar em lágrimas vendo o leal cachorro voltando à estação todos os dias para esperar seu dono falecido, veja o filme. Quem gostar muito de filmes de cachorro e quiser chorar muito, veja o filme. Quem gostar muito do Richard Gere - que, tenho que admitir, está envelhecendo muito bem - veja o filme.
Depois da morte do Professor, o cinema todo começou a fungar e lenços de papel e de pano trocaram de mão várias vezes. Uma festa para a gripe suína...
De toda forma, ainda que a estória do cachorro (verdadeira, devo relembrar) seja realmente impressionante, o filme é só isso. Não é ruim mas apenas, digamos, vazio, sem muito mais do que o está na sinopse. Lasse Halström, para tornar o filme mais identificável com platéias ocidentais, fez o filme se passar em uma cidade americana, com um casal americano, mas deixando lá alguma coisa de oriental, como o cachorro, a coleira dele e o melhor amigo do Professor, Ken (Cary-Hiroyuki Tagawa). Ficou bacana, sem dúvida e o cachorro é realmente muito bonito mas faltou algo que não sei bem explicar.
Nota: 5 de 10
sexta-feira, 2 de outubro de 2009
Crítica de filme: Away We Go (Distante Nós Vamos)
Mais um do Festival do Rio. Dessa vez vi um filme de Sam Mendes, diretor dos excelentes American Beauty (Oscarizado), Road to Perdition e Revolutionary Road. Não vi Jarhead ainda. De toda forma, em sendo um filme de Sam Mendes, esperava algo forte, dramático, perturbador.
Mas não foi isso que vi.
E o que vi me surpreendeu.
O filme começa com o que talvez seja a maneira mais original de se descobrir que alguém está grávida. Sensacional e não vou nem pensar em contar. Mas isso já vale o filme. Feita a descoberta, o casal então se prepara para a vinda do rebento, contando com a futura ajuda dos pais de Burt (John Krasinski) já que os pais de Verona (Maya Rudolph) já faleceram. Aliás, Burt e Verona se mudaram para onde moram exatamente para ficar perto de membros da família para eventualidades como essa. Um belo dia, no sexto mês de gravidez, os pais de Burt (Catherine O'Hara e Jeff Daniels) contam a grande novidade: vão se mudar para a Bélgica um mês antes do bebê nascer e ficarão por lá por dois anos. Meio perdidos, Burt e Verona saem pelos Estados Unidos - e pelo Canadá também - para procurar um local para criarem o bebê.
O filme, então, se torna um road movie e, como tal, um filme de auto-descoberta. A cada lugar que vão, o casal apaixonado se encontra com outros casais com filhos e vêem o que pode ser o futuro deles. Essa busca pessoal pelo local perfeito para fundar uma família é o âmago do filme que, na verdade, é um filme que festeja a família, seja ela hippie, desleixada, séria demais ou de qualquer tipo. É um filme sobre o amor basicamente, o amor de um casal e do que o casal pode oferecer aos filhos.
Eu sempre ficava esperando alguma coisa torcida e ruim, no estilo Sam Mendes de dirigir mas nada. Trata-se de uma comédia dramática que não é nem comédia escrachada nem um drama no sentido, digamos, huuumm... "dramático". É uma belíssima estória sobre a força do amor e sobre a importância da família.
Sei lá. Chamem-me de sentimental, bobão, qualquer coisa mas não achei defeito nesse filme. A estória, como já disse, é lindíssima. A atuação do casal principal é inacreditavelmente boa, verdadeira. Os casais que encontram oferecem contrapontos importantes para criar o contraste sobre o que se deseja e o que se tem. É bem verdade que os casais chegam a ser caricatos mas isso não atrapalha o filme. O final também é bastante previsível mas não menos belo. É, estava "sensível" quando assisti a esse filme e, por isso, não consigo pensar em dar nota diferente da máxima. Na verdade, a cena da descoberta da gravidez no começo e outra cena, mais para o final, em que Burt e Verona descobrem que a aparente felicidade de um casal esconde uma profunda dor, já valem o ingresso (sei que estou me repetindo, mas é verdade).
Nada de errado no filme. Muito pelo contrário. Nota máxima, portanto.
Nota: 10 de 10
Mas não foi isso que vi.
E o que vi me surpreendeu.
O filme começa com o que talvez seja a maneira mais original de se descobrir que alguém está grávida. Sensacional e não vou nem pensar em contar. Mas isso já vale o filme. Feita a descoberta, o casal então se prepara para a vinda do rebento, contando com a futura ajuda dos pais de Burt (John Krasinski) já que os pais de Verona (Maya Rudolph) já faleceram. Aliás, Burt e Verona se mudaram para onde moram exatamente para ficar perto de membros da família para eventualidades como essa. Um belo dia, no sexto mês de gravidez, os pais de Burt (Catherine O'Hara e Jeff Daniels) contam a grande novidade: vão se mudar para a Bélgica um mês antes do bebê nascer e ficarão por lá por dois anos. Meio perdidos, Burt e Verona saem pelos Estados Unidos - e pelo Canadá também - para procurar um local para criarem o bebê.
O filme, então, se torna um road movie e, como tal, um filme de auto-descoberta. A cada lugar que vão, o casal apaixonado se encontra com outros casais com filhos e vêem o que pode ser o futuro deles. Essa busca pessoal pelo local perfeito para fundar uma família é o âmago do filme que, na verdade, é um filme que festeja a família, seja ela hippie, desleixada, séria demais ou de qualquer tipo. É um filme sobre o amor basicamente, o amor de um casal e do que o casal pode oferecer aos filhos.
Eu sempre ficava esperando alguma coisa torcida e ruim, no estilo Sam Mendes de dirigir mas nada. Trata-se de uma comédia dramática que não é nem comédia escrachada nem um drama no sentido, digamos, huuumm... "dramático". É uma belíssima estória sobre a força do amor e sobre a importância da família.
Sei lá. Chamem-me de sentimental, bobão, qualquer coisa mas não achei defeito nesse filme. A estória, como já disse, é lindíssima. A atuação do casal principal é inacreditavelmente boa, verdadeira. Os casais que encontram oferecem contrapontos importantes para criar o contraste sobre o que se deseja e o que se tem. É bem verdade que os casais chegam a ser caricatos mas isso não atrapalha o filme. O final também é bastante previsível mas não menos belo. É, estava "sensível" quando assisti a esse filme e, por isso, não consigo pensar em dar nota diferente da máxima. Na verdade, a cena da descoberta da gravidez no começo e outra cena, mais para o final, em que Burt e Verona descobrem que a aparente felicidade de um casal esconde uma profunda dor, já valem o ingresso (sei que estou me repetindo, mas é verdade).
Nada de errado no filme. Muito pelo contrário. Nota máxima, portanto.
Nota: 10 de 10
Assinar:
Postagens (Atom)