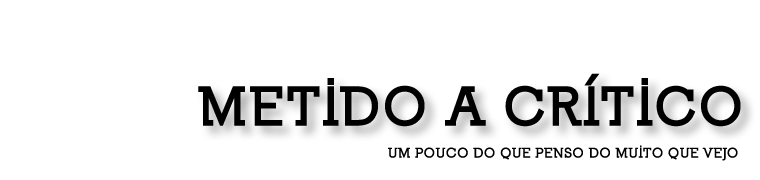Werner Herzog, depois do ótimo Rescue Dawn (O Sobrevivente), com Christian Bale, decidiu refilmar Bad Lieutenant, de Abel Ferrara, com Harvey Keitel. Dessa vez, o astro foi Nicholas Cage. Essa combinação me fez escolher The Bad Lieutenant como um dos filmes da minha lista no Festival do Rio desse ano.
A estória começa logo após os trágicos eventos em Nova Orleans com o furacão Katrina. Nessa hora somos apresentados a Terence McDonagh (Nick Cage) e seu parceiro Stevie Pruit (Val Kilmer). Os dois entram em uma prisão inundada e, depois de uma cruel conversa, em que dão a entender que não moveriam uma palha para salvar um detento que está para se afogar, Terence se joga na água em direção ao prisioneiro. Corta o filme e seis meses se passaram. Terence foi promovido para tenente mas seu pulo na água custou-lhe as costas. Vive com enormes dores que, ainda que em um primeiro momento tenham sido amenizadas pelos remédios prescritos pelo médico, agora necessitam de coisinhas mais fortes para sumir. Terence é uma máquina de cheirar qualquer coisa que passa pela frente e vive de pequenos furtos de drogas da sala de provas da Polícia. Sua aparência é grotesca, com um ombro mais alto que o outro, um paletó amassado e sempre aberto mostrando um enorme revólver que ele displicentemente enfia na cintura.
Apesar de ser o melhor policial da força, Terence é um homem corroído. Além das drogas, achaca pessoas na rua, aposta o dinheiro que não tem, namora uma prostituta (Frankie, vivida por Eva Mendes). Basicamente ele não liga para nada que não seja uma boa "fungada" e resolver crimes, mesmo que para isso tenha que recorrer a, digamos, ilegalidades.
No meio desse terremoto pessoal, Terence tem que liderar sua equipe na investigação de um homicídio de 5 pessoas no que parece ser uma guerra de traficantes de drogas. Como Terence não liga para nada, arrisca-se que nem um maluco, consegue se envolver em todo tipo de encrenca possível com policiais e bandidos sem distinção, tem visões constantes de répteis (e de uma ocasional alma dançarina - não me perguntem, vejam para entender) e ainda se mete na relação do pai ex-alcoólatra com sua madrasta completamente alcoólatra.
Herzog, desnecessário dizer, está em perfeita forma como diretor e oferece um filme pesado mas engraçado, triste mas edificante. Mostra que o pior pode ser superado, assim como os americanos de Nova Orleans superaram a tragédia. Pode-se dizer, na verdade, que o filme é Nova Orleans sob o ponto de vista de um homem que passou por um furacão e está tentando se recuperar.
Por todo momento parece que nos depararemos com um final arrasador, com todo mundo morto. Sem revelar o que acontece, o final, na verdade, é bem diferente, talvez diferente demais para o gosto de alguns mas, se encarado sob o ponto de vista da capacidade de superação inata ao ser humano, é muito crível.
Vale uma palavra aqui sobre Nicholas Cage. Da última vez que ele se juntou com Eva Mendes, o rebento que nos foi apresentado foi o péssimo Motoqueiro Fantasma (ok, em termos de filmes de super-heróis, é Cidadão Kane se comparado com a porcaria que é Wolverine). No entanto, o Nicholas Cage que vemos em Bad Lieutenant é o Nicholas Cage de Leaving Las Vegas, Matchstick Men ou Lord of War, não o Nicholas Cage de Con Air ou Face/Off. Trata-se de um ser em mutação, um excelente retrato da condição humana e até que ponto podemos chegar. No entanto, mesmo isso pode ser motivo de controvérsia pois Herzog dirige o ator para que o espectador ou o veja como um camaleão, um Corcunda de Notre Dame moderno, ou como algo exagerado, caricato, completamente forçado. Cabe a nós a decisão e meu voto vocês já sabem qual é.
Nota: 8 de 10
quarta-feira, 30 de setembro de 2009
Crítica de filme: The Brothers Bloom (Os Vigaristas)
Continuando o Festival do Rio, tive a oportunidade de assistir The Brothers Bloom, filme de 2008 dirigido por Rian Johnson e estrelando Adrien Brody e Mark Ruffalo como os irmãos Bloom e Stephen (sim, um é chamado apenas pelo sobrenome e vocês verão o porquê) e Rachel Weisz como Penelope Stamp. Rian Johnson tem curtíssima carreira no cinema com apenas Brick em seu currículo. Não vi esse seu primeiro longa mas sempre tive muita vontade de ver pelo que li sobre o filme.
Assim, em vista do elenco e de um diretor quase estreante com um filme que gostaria de ter visto (e ainda verei), escolhi The Brothers Bloom para assistir, sem esperar muito do filme. Trata-se da estória, como diz o título em português, de dois vigaristas que vivem de dar golpes em ricaços. No entanto, o que os diferencia é que Stephen elabora planos como se fossem escritas "como os russos escreviam romances: com arcos temáticos e infusão de simbolismo". De fato, cada golpe é intrincado, melodramático e sempre com a intenção de deixar todos os envolvidos contentes, "pois esse é o melhor golpe". Bloom, irmão de Stephen, é o personagem chave de cada golpe. A cada inspiração, Stephen altera a personalidade de Bloom, de forma a moldá-la ao que é necessário para o sucesso do golpe. Isso torna Bloom um personagem miserável, sem personalidade, que tem apenas um desejo: "viver uma vida não roteirizada". Daí o porquê dele ser chamado apenas pelo sobrenome já que é o primeiro nome que dá a característica específica da pessoa, não o nome de família, que o torna um no meio de vários.
É evidente que Stephen atrai Bloom para um "último golpe" e, nesse momento, Bloom encontra o que parece ser sua cara metade. Ou será que não? Revelar alguma coisa é estragar o prazer de ver esse filme que, em sua primeira metade, começando com os irmãos Bloom descobrindo suas habilidades ainda crianças e se estendendo até o golpe na República Tcheca, é um enorme deleite. Rian Johnson usa de personagens extremamente caricatos como o próprio Stephen, sempre bonachão e adorador do irmão, apesar de sempre usá-lo (no bom sentido - ou não?). É um tal de tapa olhos para cá, capas para lá, personagens sinistros para o outro lado e, claro, como poderia esquecer, Bang Bang.
Bang Bang (Rinko Kikuchi) é a capanga oriental muda de Stephen e muitas das melhores cenas é com ela. Para lá de estranha, Bang Bang é o alívio cômico para um filme que não precisa de alívio cômico, pelo menos não na primeira metade. Mas quem rouba a cena mesmo é Penelope Stamp, o personagem de Rachel Weisz. Ela é quaquilhonária como diria o Tio Patinhas e passou metade da vida presa dentro de casa em um bolha protetora criada por seus pais. Ao encontrar Bloom, o clique é imediato e os dois se conectam. Ah, esqueci de avisar que Penelope é o alvo do último golpe dos irmãos. No entanto, precisando de aventuras em sua vida, Penelope cai fácil em qualquer chamariz e faz as vezes da inocente safada, com todo aquele jeitinho que só a Rachel Weisz consegue fazer.
No lado do elenco masculinho, Brody e Ruffalo estão perfeitos. O primeiro realmente parece ser uma pessoa amorfa, sem personalidade. O segundo é cheio de vida e sempre manipulador, mesmo quando não está falando nada. Rian Johnson encontrou uma dupla improvável com enorme química.
Vocês notarão que fiquei falando da "primeira metade" do filme. Pois é. Infelizmente, Rian Johnson, quase consegue estragar uma boa experiência com infindáveis repetições das mesmas situações, tornando o filme bastante comprido apesar de ter somente 113 minutos. Esse defeito não chega a ser grave ao ponto de arruinar o filme mas pesou muito em minha capacidade de efetivamente apreciá-lo em todo seu potencial. Johnson teria feito melhor se tivesse reduzido a quantidade de golpes e de reviravoltas e se concentrado na leveza que reina na primeira parte de sua obra. Mas há enorme potencial nesse diretor pois são poucos os diretores que se arriscam a fazer filmes que, por si só, negam sua existência já que há anacronismos presentes por toda a estória que passam a impressão que Johnson, na verdade, está pregando uma peça em nós, espectadores. É ver para entender.
Um alerta para os amantes de automóvel fracos dos coração. Há muito crueldade perpetrada contra Lamborghinis amarelos durante o filme. Preparem os lenços de papel e protestem perante a Sociedade Protetora dos Carros Milionários...
Nota: 7 de 10
Assim, em vista do elenco e de um diretor quase estreante com um filme que gostaria de ter visto (e ainda verei), escolhi The Brothers Bloom para assistir, sem esperar muito do filme. Trata-se da estória, como diz o título em português, de dois vigaristas que vivem de dar golpes em ricaços. No entanto, o que os diferencia é que Stephen elabora planos como se fossem escritas "como os russos escreviam romances: com arcos temáticos e infusão de simbolismo". De fato, cada golpe é intrincado, melodramático e sempre com a intenção de deixar todos os envolvidos contentes, "pois esse é o melhor golpe". Bloom, irmão de Stephen, é o personagem chave de cada golpe. A cada inspiração, Stephen altera a personalidade de Bloom, de forma a moldá-la ao que é necessário para o sucesso do golpe. Isso torna Bloom um personagem miserável, sem personalidade, que tem apenas um desejo: "viver uma vida não roteirizada". Daí o porquê dele ser chamado apenas pelo sobrenome já que é o primeiro nome que dá a característica específica da pessoa, não o nome de família, que o torna um no meio de vários.
É evidente que Stephen atrai Bloom para um "último golpe" e, nesse momento, Bloom encontra o que parece ser sua cara metade. Ou será que não? Revelar alguma coisa é estragar o prazer de ver esse filme que, em sua primeira metade, começando com os irmãos Bloom descobrindo suas habilidades ainda crianças e se estendendo até o golpe na República Tcheca, é um enorme deleite. Rian Johnson usa de personagens extremamente caricatos como o próprio Stephen, sempre bonachão e adorador do irmão, apesar de sempre usá-lo (no bom sentido - ou não?). É um tal de tapa olhos para cá, capas para lá, personagens sinistros para o outro lado e, claro, como poderia esquecer, Bang Bang.
Bang Bang (Rinko Kikuchi) é a capanga oriental muda de Stephen e muitas das melhores cenas é com ela. Para lá de estranha, Bang Bang é o alívio cômico para um filme que não precisa de alívio cômico, pelo menos não na primeira metade. Mas quem rouba a cena mesmo é Penelope Stamp, o personagem de Rachel Weisz. Ela é quaquilhonária como diria o Tio Patinhas e passou metade da vida presa dentro de casa em um bolha protetora criada por seus pais. Ao encontrar Bloom, o clique é imediato e os dois se conectam. Ah, esqueci de avisar que Penelope é o alvo do último golpe dos irmãos. No entanto, precisando de aventuras em sua vida, Penelope cai fácil em qualquer chamariz e faz as vezes da inocente safada, com todo aquele jeitinho que só a Rachel Weisz consegue fazer.
No lado do elenco masculinho, Brody e Ruffalo estão perfeitos. O primeiro realmente parece ser uma pessoa amorfa, sem personalidade. O segundo é cheio de vida e sempre manipulador, mesmo quando não está falando nada. Rian Johnson encontrou uma dupla improvável com enorme química.
Vocês notarão que fiquei falando da "primeira metade" do filme. Pois é. Infelizmente, Rian Johnson, quase consegue estragar uma boa experiência com infindáveis repetições das mesmas situações, tornando o filme bastante comprido apesar de ter somente 113 minutos. Esse defeito não chega a ser grave ao ponto de arruinar o filme mas pesou muito em minha capacidade de efetivamente apreciá-lo em todo seu potencial. Johnson teria feito melhor se tivesse reduzido a quantidade de golpes e de reviravoltas e se concentrado na leveza que reina na primeira parte de sua obra. Mas há enorme potencial nesse diretor pois são poucos os diretores que se arriscam a fazer filmes que, por si só, negam sua existência já que há anacronismos presentes por toda a estória que passam a impressão que Johnson, na verdade, está pregando uma peça em nós, espectadores. É ver para entender.
Um alerta para os amantes de automóvel fracos dos coração. Há muito crueldade perpetrada contra Lamborghinis amarelos durante o filme. Preparem os lenços de papel e protestem perante a Sociedade Protetora dos Carros Milionários...
Nota: 7 de 10
domingo, 27 de setembro de 2009
Crítica de filme: District 9 (Distrito 9)
Neil Blomkamp era o nome mais cotado para ser o diretor de Halo, a versão cinematográfica do videogame blockbuster da Microsoft. O projeto acabou se tornando caro e complicado e Neil Blomkamp não tinha nenhuma (quase nenhuma, na verdade) experiência como diretor. Jogar no colo dele um pepino do tamanho de Halo não seria justo. Outro nome que estava e ainda está por trás de Halo é o de Peter Jackson, esse sim um diretor que qualquer estúdio gostaria de ter dirigindo seus filmes. No entanto, Peter Jackson meio que "adotou" Neil Blomkamp e District 9 foi o que saiu dessa adoção. E fiquei muito feliz em descobrir que esse filme seria um dos 300+ do Festival do Rio.
O filme é uma ficção científica muito inteligente, feito com meros 30 milhões de dólares (num mundo em que G.I. Joe custa 175 milhões e Transformers 2 custa 200 milhões, com Avatar na casa dos 300 milhões, 30 é troco). Por esse valor, eu esperava um filme com poucos efeitos especiais mas me deparei com algo que usa pesadamente efeitos e todos parecem estar integrados ao filme, diferentemente, por exemplo, dos efeitos constrangedores das roupas "aceleradoras" de G.I. Joe.
A premissa por si só é ótima. Uma enorme nave extraterrestre apareceu na Terra há 20 anos e ficou flutuando em cima não de cidade óbvias como Nova Iorque, Washington ou Paris, mas sim de Johannesburgo na África do Sul. Três meses se passam e nada acontece. Os humanos, então, decidem entrar na nave para ver o que está acontecendo e encontram milhares de ETs muito feios e famintos, logo apelidados de "camarões". Todos os camarões são, então, realocados para acampamentos provisórios que, com o passar do tempo, se tornam favelas onde tudo acontece: venda de armas, prostituição, furtos e assassinatos.
O filme mistura um tom de documentário no começo. O diretor usa cenas da chegada dos extraterrestres em estilo montagem da CNN e vai contando os eventos que desaguam no começo efetivo do filme: o despejo dos camarões do Distrito 9 para o Distrito 10, 200 quilômetros mais distante da cidade. Chefiando essa enorme operação está Wikus Van De Merwe, um burocrata completamente iditota da empresa Multi-National United (MNU), que cuida da relação entre os camarões e os humanos. Obviamente, a operação dá muito errado e Wikus acaba se envolvendo, digamos, de forma bem próxima, com os camarões.
Sem estragar a estória para quem não assistiu, Blomkamp conseguiu reunir vários elementos batidos de filmes de ficção científica em uma trama coesa, original e muito fácil de se assistir. Esses elementos são, dentre outros, (1) a empresa "humanitária" que não é tão humanitária assim; (2) armas que só funcionam com o DNA dos seres que a fizeram; (3) manipulação genética e cobaias vivas; (4) exposição de personagens à biotecnologia alienígena; (5) transformações nojentas; (6) armas bacanas; (7) um design de alienígenas no nível de Alien; (8) o soldado bandido durão e (9) mais armas bacanas.
District 9 é um alívio ao meio de um "verão americano" de filmes fraquíssimos, especialmente os de ficção. Tem tudo para agradar os fãs de ficção científica em níveis que há muito não se via. Mas o filme também agrada por outro lado: sua denúncia social. No meio de todo aquele aparato tecnológico e efeitos especiais, há uma forte estória de intolerância, genocídio e ganância que resume muito bem o que vem acontecendo no mundo nas últimas várias décadas.
Independente da mensagem mais profunda, District 9 agrada, também, àqueles que só querem saber de pancadaria. Não falta sangue e vômito nesse filme, além de sensacionais cenas de pura tensão. A briga final do exoesqueleto estilo Aliens com os soldados da MNU é uma dos melhores usos de efeitos especiais que já vi. Quero ver é James Cameron desbancar esses efeitos com seu absurdamente caro Avatar...
Mas District 9 não é um filme sem defeitos. O primeiro deles envolve as coincidências sobre o "líquido preto" criado por um dos ETs. Não vou falar demais para não estragar mas basta dizer que o ET levou 20 anos para conseguir juntar o suficiente do líquido e justamente no DIA que a MNU entra no Distrito 9 para fazer a mudança dos camarões é o dia em que o ET acaba de juntar líquido suficiente. O outro ponto que me incomodou é que District 9 é, todo ele, uma preparação para District 10. Não é que fique uma pontinha para uma continuação. Não. Blomkamp devia saber que tinha ouro em suas mãos pois passou o filme inteiro deixando claro que a estória só fica completa com pelo menos mais um filme. Não é exatamente algo ruim mas espero que o diretor (que também é o roteirista) esteja no barco da próxima vez também e que ele tenha a liberdade para fazer algo ousado como District 9 e não pasteurizado como Transformers 2.
Nota: 9 de 10
O filme é uma ficção científica muito inteligente, feito com meros 30 milhões de dólares (num mundo em que G.I. Joe custa 175 milhões e Transformers 2 custa 200 milhões, com Avatar na casa dos 300 milhões, 30 é troco). Por esse valor, eu esperava um filme com poucos efeitos especiais mas me deparei com algo que usa pesadamente efeitos e todos parecem estar integrados ao filme, diferentemente, por exemplo, dos efeitos constrangedores das roupas "aceleradoras" de G.I. Joe.
A premissa por si só é ótima. Uma enorme nave extraterrestre apareceu na Terra há 20 anos e ficou flutuando em cima não de cidade óbvias como Nova Iorque, Washington ou Paris, mas sim de Johannesburgo na África do Sul. Três meses se passam e nada acontece. Os humanos, então, decidem entrar na nave para ver o que está acontecendo e encontram milhares de ETs muito feios e famintos, logo apelidados de "camarões". Todos os camarões são, então, realocados para acampamentos provisórios que, com o passar do tempo, se tornam favelas onde tudo acontece: venda de armas, prostituição, furtos e assassinatos.
O filme mistura um tom de documentário no começo. O diretor usa cenas da chegada dos extraterrestres em estilo montagem da CNN e vai contando os eventos que desaguam no começo efetivo do filme: o despejo dos camarões do Distrito 9 para o Distrito 10, 200 quilômetros mais distante da cidade. Chefiando essa enorme operação está Wikus Van De Merwe, um burocrata completamente iditota da empresa Multi-National United (MNU), que cuida da relação entre os camarões e os humanos. Obviamente, a operação dá muito errado e Wikus acaba se envolvendo, digamos, de forma bem próxima, com os camarões.
Sem estragar a estória para quem não assistiu, Blomkamp conseguiu reunir vários elementos batidos de filmes de ficção científica em uma trama coesa, original e muito fácil de se assistir. Esses elementos são, dentre outros, (1) a empresa "humanitária" que não é tão humanitária assim; (2) armas que só funcionam com o DNA dos seres que a fizeram; (3) manipulação genética e cobaias vivas; (4) exposição de personagens à biotecnologia alienígena; (5) transformações nojentas; (6) armas bacanas; (7) um design de alienígenas no nível de Alien; (8) o soldado bandido durão e (9) mais armas bacanas.
District 9 é um alívio ao meio de um "verão americano" de filmes fraquíssimos, especialmente os de ficção. Tem tudo para agradar os fãs de ficção científica em níveis que há muito não se via. Mas o filme também agrada por outro lado: sua denúncia social. No meio de todo aquele aparato tecnológico e efeitos especiais, há uma forte estória de intolerância, genocídio e ganância que resume muito bem o que vem acontecendo no mundo nas últimas várias décadas.
Independente da mensagem mais profunda, District 9 agrada, também, àqueles que só querem saber de pancadaria. Não falta sangue e vômito nesse filme, além de sensacionais cenas de pura tensão. A briga final do exoesqueleto estilo Aliens com os soldados da MNU é uma dos melhores usos de efeitos especiais que já vi. Quero ver é James Cameron desbancar esses efeitos com seu absurdamente caro Avatar...
Mas District 9 não é um filme sem defeitos. O primeiro deles envolve as coincidências sobre o "líquido preto" criado por um dos ETs. Não vou falar demais para não estragar mas basta dizer que o ET levou 20 anos para conseguir juntar o suficiente do líquido e justamente no DIA que a MNU entra no Distrito 9 para fazer a mudança dos camarões é o dia em que o ET acaba de juntar líquido suficiente. O outro ponto que me incomodou é que District 9 é, todo ele, uma preparação para District 10. Não é que fique uma pontinha para uma continuação. Não. Blomkamp devia saber que tinha ouro em suas mãos pois passou o filme inteiro deixando claro que a estória só fica completa com pelo menos mais um filme. Não é exatamente algo ruim mas espero que o diretor (que também é o roteirista) esteja no barco da próxima vez também e que ele tenha a liberdade para fazer algo ousado como District 9 e não pasteurizado como Transformers 2.
Nota: 9 de 10
Crítica de filme: Coco Antes de Chanel (Coco Avant Chanel)
Continuando os filmes do Festival do Rio de 2009, vi Coco Antes de Chanel. Para dizer a verdade, já vi esse filme há algum tempo sem nem saber que ele viria para o festival e totalmente sem querer pois pouco me interessava pela vida de Coco Chanel. Na verdade, o máximo que sabia sobre ela era que ela foi uma estilista e que há um famoso perfume com o nome dela. Podem me chamar de ignorante...
De toda forma, esse filme francês de 2009, dirigido por Anne Fontaine e estrelando Audrey Tautou no papel título é muito simpático e bem feito. Conta a difícil e conflitante vida de Gabrielle "Coco" Chanel desde quando era uma criança até alcançar fama revolucionando o mundo da moda feminina. Basicamente - e sem querer desmerecer Chanel - ela jogou fora a vestimenta básica da mulher do começo do século XX, ou seja, vestido longos com espartilhos e extremamente complicados, pela moda que temos hoje em dia.
Chanel, o filme mostra, sempre foi uma mulher a frente de seu tempo, totalmente despida das frescuras e da submissão reinantes entre as mulheres do começo do século passado. Ela não se importava com o que achavam dela e se vestia da forma que bem lhe entendesse. Saiu de sua posição de costureira/cantora de cabaré para o ponto mais alta da moda, passando por grandes romances - e tragédias - que só parecem ter solidificado ainda mais seu caráter revolucionário e incisivo.
Audrey Tautou, famosa pelo papel título na fábula Amélie Poulin, se mostra madura no papel. É bem verdade que sua aparência frágil não parece combinar com o temperamento forte de Chanel mas, depois de um tempo, o espectador se acostuma.
O filme peca por ser lento demais e sem muitos eventos importantes para impulsionar a estória. A diretora perde muito tempo tentando estabelecer a infância complicada de Chanel, pula para sua carreira de cantora/costureira e fica nesse momento histórico por tempo de mais. Apesar da fama do nome Chanel, uma pessoa "normal" pouco sabe de sua vida e sem momentos instigantes para prender o espectador, há que haver um pouco de boa vontade para se aguentar o filme até o final. Não que não valha a pena mas é que a diretora poderia ter ajudado.
Nota: 6 de 10
De toda forma, esse filme francês de 2009, dirigido por Anne Fontaine e estrelando Audrey Tautou no papel título é muito simpático e bem feito. Conta a difícil e conflitante vida de Gabrielle "Coco" Chanel desde quando era uma criança até alcançar fama revolucionando o mundo da moda feminina. Basicamente - e sem querer desmerecer Chanel - ela jogou fora a vestimenta básica da mulher do começo do século XX, ou seja, vestido longos com espartilhos e extremamente complicados, pela moda que temos hoje em dia.
Chanel, o filme mostra, sempre foi uma mulher a frente de seu tempo, totalmente despida das frescuras e da submissão reinantes entre as mulheres do começo do século passado. Ela não se importava com o que achavam dela e se vestia da forma que bem lhe entendesse. Saiu de sua posição de costureira/cantora de cabaré para o ponto mais alta da moda, passando por grandes romances - e tragédias - que só parecem ter solidificado ainda mais seu caráter revolucionário e incisivo.
Audrey Tautou, famosa pelo papel título na fábula Amélie Poulin, se mostra madura no papel. É bem verdade que sua aparência frágil não parece combinar com o temperamento forte de Chanel mas, depois de um tempo, o espectador se acostuma.
O filme peca por ser lento demais e sem muitos eventos importantes para impulsionar a estória. A diretora perde muito tempo tentando estabelecer a infância complicada de Chanel, pula para sua carreira de cantora/costureira e fica nesse momento histórico por tempo de mais. Apesar da fama do nome Chanel, uma pessoa "normal" pouco sabe de sua vida e sem momentos instigantes para prender o espectador, há que haver um pouco de boa vontade para se aguentar o filme até o final. Não que não valha a pena mas é que a diretora poderia ter ajudado.
Nota: 6 de 10
Club du Film 4.24 - Raiders of the Lost Ark (Os Caçadores da Arca Perdida)
O 24º filme do ano IV do Club du Film, foi Raiders of the Lost Ark (Os Caçadores da Arca Perdida), assistido em 03.09.09. O filme dispensa apresentações mas, para quem vive em Marte, trata-se de um clássico oitentista de aventuras, dirigido por Steven Spielberg e produzido por George Lucas, em 1981, estrelando Harrison Ford no inesquecível papel do arqueólogo Indiana Jones, Karen Allen como Marion e John Rhys-Davies como Sallah.
Curiosamente, apesar de todo o apelo para uma criança da idade que eu tinha em 1981, só cheguei a ver esse filme arrastado pela mãe de um amigo meu e meu amigo no finado Drive-In da Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi sensacional e a cena da pedra rolando atrás de um esbaforido e desesperado arqueólogo ficou para sempre em minha mente. Foi Caçadores que me ensinou que arqueólogos usam chapéus e jaquetas de couro, além de chicotes e revólveres. Não gostam de cobras e sabem lutar como ninguém. Foi Caçadores que, muito mais que Superman, Tubarão e Guerra nas Estrelas, me mostrou que um filme de ação pode ser inteligente e cativante.
Como é possível esquecer da cena em que Indiana, ao se deparar com um enorme guerreiro árabe com uma cimitarra, faz uma cara de enfado, saca sua arma e fuzila o cara, logo dando as costas? E a cena da luta à base de socos e pontapés ao lado do avião nazista? E a perseguição com os caminhões? E o Templo das Almas cheio de cobras ameaçadoras?
Caçadores foi uma homenagem de Spielberg e Lucas às estórias pulp da década de quarenta nos EUA. Mas, muito mais que isso, foi um presente à toda uma geração, presente esse que se repetiu com a mesma qualidade por mais três vezes (sim, três vezes pois, por mais que possam reclamar de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, o filme me fez voltar no tempo, para 1981).
Caçadores é, basicamente, o filme de ação em relação a que todos os outros têm que ser comparados. Nada de edições confusas, que não permitem que o espectador saiba quem é quem. Nada de cortes rápidos, nada de close-ups extremos de cenas que obviamente precisavam de alguma distância. Caçadores é, talvez mais do que um dos símbolos da minha infância e da infância de todo mundo que nasceu na década de 70, uma aula de cinema que deu e continua dando filhos - dezenas e dezenas - bons e ruins até hoje. É um daqueles momentos que definem a estória do cinema, assim como tantas outras obras lembradas e admiradas todos os dias por quem gosta de cinema.
Sobre o Club du Film:
Há pouco mais de três anos e meio, no dia 28 de dezembro de 2005, eu e alguns amigos decidimos assistir, semanalmente, grandes clássicos do cinema mundial. Esse encontro ficou jocosamente conhecido como Club du Film. Como guia, buscamos o livro The Great Movies do famoso crítico de cinema norte-americano Roger Ebert, editado em 2003. Começamos com Raging Bull e acabamos de assistir a todos os filmes listados no livro (uns 117 no total) no dia 18.12.2008. Em 29.12.2008, iniciamos a lista contida no livro The Great Movies II do mesmo autor, editado em 2006. São, novamente, mais de 100 filmes. Dessa vez, porém, tentarei fazer um post para cada filme que assistirmos, com meus comentários e notas de cada membro do grupo.
Notas:
Minha: 10 de 10
Klaatu: 10 de 10
Barada: 10 de 10
Curiosamente, apesar de todo o apelo para uma criança da idade que eu tinha em 1981, só cheguei a ver esse filme arrastado pela mãe de um amigo meu e meu amigo no finado Drive-In da Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi sensacional e a cena da pedra rolando atrás de um esbaforido e desesperado arqueólogo ficou para sempre em minha mente. Foi Caçadores que me ensinou que arqueólogos usam chapéus e jaquetas de couro, além de chicotes e revólveres. Não gostam de cobras e sabem lutar como ninguém. Foi Caçadores que, muito mais que Superman, Tubarão e Guerra nas Estrelas, me mostrou que um filme de ação pode ser inteligente e cativante.
Como é possível esquecer da cena em que Indiana, ao se deparar com um enorme guerreiro árabe com uma cimitarra, faz uma cara de enfado, saca sua arma e fuzila o cara, logo dando as costas? E a cena da luta à base de socos e pontapés ao lado do avião nazista? E a perseguição com os caminhões? E o Templo das Almas cheio de cobras ameaçadoras?
Caçadores foi uma homenagem de Spielberg e Lucas às estórias pulp da década de quarenta nos EUA. Mas, muito mais que isso, foi um presente à toda uma geração, presente esse que se repetiu com a mesma qualidade por mais três vezes (sim, três vezes pois, por mais que possam reclamar de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, o filme me fez voltar no tempo, para 1981).
Caçadores é, basicamente, o filme de ação em relação a que todos os outros têm que ser comparados. Nada de edições confusas, que não permitem que o espectador saiba quem é quem. Nada de cortes rápidos, nada de close-ups extremos de cenas que obviamente precisavam de alguma distância. Caçadores é, talvez mais do que um dos símbolos da minha infância e da infância de todo mundo que nasceu na década de 70, uma aula de cinema que deu e continua dando filhos - dezenas e dezenas - bons e ruins até hoje. É um daqueles momentos que definem a estória do cinema, assim como tantas outras obras lembradas e admiradas todos os dias por quem gosta de cinema.
Sobre o Club du Film:
Há pouco mais de três anos e meio, no dia 28 de dezembro de 2005, eu e alguns amigos decidimos assistir, semanalmente, grandes clássicos do cinema mundial. Esse encontro ficou jocosamente conhecido como Club du Film. Como guia, buscamos o livro The Great Movies do famoso crítico de cinema norte-americano Roger Ebert, editado em 2003. Começamos com Raging Bull e acabamos de assistir a todos os filmes listados no livro (uns 117 no total) no dia 18.12.2008. Em 29.12.2008, iniciamos a lista contida no livro The Great Movies II do mesmo autor, editado em 2006. São, novamente, mais de 100 filmes. Dessa vez, porém, tentarei fazer um post para cada filme que assistirmos, com meus comentários e notas de cada membro do grupo.
Notas:
Minha: 10 de 10
Klaatu: 10 de 10
Barada: 10 de 10
sábado, 26 de setembro de 2009
Crítica de filme: 12 Jurados e Uma Sentença (12 Razgnevannyh Muzhchin)
Com o Festival do Rio em andamento, não resisti e comprei alguns ingressos, apesar do pouco tempo que terei para dedicar aos filmes. Minha segunda escolha foi 12 Jurados e Uma Sentença, filme russo de 2007, dirigido por Nikita Mikhalkov, pois ele é uma refilmagem do brilhante 12 Angry Men (12 Homens e Uma Sentença) que comentei aqui e concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2008 (a 80ª Cerimônia).
No filme original, 12 jurados se sentam em uma sala para decidir se condenam ou não um jovem checheno pelo assassinato de seu pai adotivo, um militar russo. O caso é evidente: o garoto é culpado. A decisão deve ser unânime e, com toda a certeza do mundo, os jurados partem para a primeira votação mas um dele vota pela inocência. Começa, então, todo um delicado trabalho do dissidente para ao menos mostrar que nem tudo é o que parece.
O filme é fortemente calcado no original americano mas há um claro sabor russo e o diretor, que também é um dos roteiristas, usa o filme como uma ode contra a intolerância, racismo, guerra e a estupidez em geral. Não fica de fora, também, comentários sobre a ineficiência do antigo sistema comunista. Diferentemente do original, há uso de flashbacks mas nunca para mostrar como teria sido o assassinato, mas sim para mostrar a vida do garoto quando tinha 5 ou 6 anos, na Chechênia em plena guerra com a Rússia.
O filme, que é bem longo (159 minutos) é um palco para atuações brilhantes dos 12 atores. Cada um foi chamado por suas atuações passadas em filmes russos e cada um emprestou sua personalidade aos papéis. O diretor, muito inteligente, usa o tempo que tem para vagarosamente contar a estória da vida dos jurados e como elas afetam suas decisões e impulsionam a estória. Cada monólogo é de cortar o coração. Também muito inteligentemente, o diretor diminui a importância do jurado dissidente. No original, esse papel ficou com Henry Fonda e ele, em brilhante atuação, torna-se um verdadeiro detetive, apesar de confinado em pequena sala. No filme russo, o jurado dissidente é o gatilho que inicia a discussão, como se fosse a primeira peça de dominó que começa a derrubar as demais em uma reação em cadeia. No entanto, seu papel fica mais ou menos por aí. Os demais jurados, todos com personalidades diferentes, vão chegando às suas próprias conclusões.
Em um pano de fundo, vemos a crueldade da guerra, em tristes, mas belos flashbacks da vida do garoto checheno em sua terra natal. A cena da "dança da faca" com o garoto, reprisada mais tarde em dois momentos: uma na cela da prisão e outra na sala dos jurados (um ginásio de uma escola, na verdade) é lindíssima.
Mais para o final, o diretor resolve introduzir aspectos bem diferentes ao filme. Um deles é que a investigação dos jurados chega a ser quase que totalmente conclusiva sobre o assassino. Sidney Lumet, o diretor do original, não dá qualquer importância a esse aspecto, ficando, apenas, no conceito de "beyond reasonable doubt". Outro aspecto é a votação final dissidente que, na verdade, empresta um aspecto muito realista ao filme mas que, infelizmente, ao final, é estragada por um evento que é exageradamente "bondoso" e "feliz".
De toda forma, esse finalzinho não estraga o filme de maneira alguma. Cada minuto dos 159 valem a pena, ainda que cada minuto dos 96 do original americano valham ainda mais a pena.
Nota: 9 de 10
No filme original, 12 jurados se sentam em uma sala para decidir se condenam ou não um jovem checheno pelo assassinato de seu pai adotivo, um militar russo. O caso é evidente: o garoto é culpado. A decisão deve ser unânime e, com toda a certeza do mundo, os jurados partem para a primeira votação mas um dele vota pela inocência. Começa, então, todo um delicado trabalho do dissidente para ao menos mostrar que nem tudo é o que parece.
O filme é fortemente calcado no original americano mas há um claro sabor russo e o diretor, que também é um dos roteiristas, usa o filme como uma ode contra a intolerância, racismo, guerra e a estupidez em geral. Não fica de fora, também, comentários sobre a ineficiência do antigo sistema comunista. Diferentemente do original, há uso de flashbacks mas nunca para mostrar como teria sido o assassinato, mas sim para mostrar a vida do garoto quando tinha 5 ou 6 anos, na Chechênia em plena guerra com a Rússia.
O filme, que é bem longo (159 minutos) é um palco para atuações brilhantes dos 12 atores. Cada um foi chamado por suas atuações passadas em filmes russos e cada um emprestou sua personalidade aos papéis. O diretor, muito inteligente, usa o tempo que tem para vagarosamente contar a estória da vida dos jurados e como elas afetam suas decisões e impulsionam a estória. Cada monólogo é de cortar o coração. Também muito inteligentemente, o diretor diminui a importância do jurado dissidente. No original, esse papel ficou com Henry Fonda e ele, em brilhante atuação, torna-se um verdadeiro detetive, apesar de confinado em pequena sala. No filme russo, o jurado dissidente é o gatilho que inicia a discussão, como se fosse a primeira peça de dominó que começa a derrubar as demais em uma reação em cadeia. No entanto, seu papel fica mais ou menos por aí. Os demais jurados, todos com personalidades diferentes, vão chegando às suas próprias conclusões.
Em um pano de fundo, vemos a crueldade da guerra, em tristes, mas belos flashbacks da vida do garoto checheno em sua terra natal. A cena da "dança da faca" com o garoto, reprisada mais tarde em dois momentos: uma na cela da prisão e outra na sala dos jurados (um ginásio de uma escola, na verdade) é lindíssima.
Mais para o final, o diretor resolve introduzir aspectos bem diferentes ao filme. Um deles é que a investigação dos jurados chega a ser quase que totalmente conclusiva sobre o assassino. Sidney Lumet, o diretor do original, não dá qualquer importância a esse aspecto, ficando, apenas, no conceito de "beyond reasonable doubt". Outro aspecto é a votação final dissidente que, na verdade, empresta um aspecto muito realista ao filme mas que, infelizmente, ao final, é estragada por um evento que é exageradamente "bondoso" e "feliz".
De toda forma, esse finalzinho não estraga o filme de maneira alguma. Cada minuto dos 159 valem a pena, ainda que cada minuto dos 96 do original americano valham ainda mais a pena.
Nota: 9 de 10
sexta-feira, 25 de setembro de 2009
Crítica de filme: The Informant! (O Desinformante!)
Começou o Festival do Rio mas minha total falta de tempo tornará impossível eu ver mais do que 3 ou 4 filmes. Assim, tive que ser criterioso dessa vez. O primeiro que escolhi foi The Informant! mais por Matt Damon do que pelo diretor, Steven Soderbergh, que é bastante irregular, oscilando entre ótimos filmes como Ocean's 11 e porcarias como as duas continuações. Isso para nem falar na sua ode a Che Guevara, um assassino elevado às alturas...
Mas, estou divagando. The Informant! foi erroneamente traduzido para o português. Não que O Desinformante! seja um título errado mas sim por que é um título óbvio demais, que não carrega as sutilezas do título original (a exclamação basta, não?) e do próprio filme.
Matt Damon está brilhante como o bioquímico Mark Whitacre que foi alçado ao cargo de vice-presidente de uma enorme empresa do agribusiness. Ele está gordo e estranhíssimo, mostrando a versatilidade do ator que não tem muito tempo estava pulando prédios e atirando em todos no papel de Jason Bourne. Em razão de um vírus que começa a prejudicar a empresa, Mark começa a passar informações vitais de fixação de preço (cartel) de sua empresa para o FBI. A agência, então, inicia uma enorme investigação, ao longo de vários anos, para descobrir o tamanho da conspiração.
Acontece que Mark Whitacre, rico, bem de vida, casado com uma adorável esposa e pai de três filhos, tem, digamos, um probleminha pessoal, uma certa condição que ele não consegue evitar. Sem entregar muito o ouro - ainda que não haja, na verdade, uma surpresa no filme - esse "probleminha" vai rolando como uma bola de neve que destrói a tudo e a todos em seu caminho. A narração de Mark é brilhante, jogando informações para a platéia ao mesmo tempo que nos alimenta com curiosidades do tipo "rádio-relógio", sem qualquer relevância imediata à trama.
Apesar do filme se passar na década de 90, Soderbergh procurou utilizar lentes e filtros, além de estilo de filmagem, bem característicos dos anos 70. Com isso, ele dá uma curiosa aparência anacrônica ao filme que só soma à experiência, parecendo que o diretor também sofre do mesmo mal que seu personagem Mark. O mesmo acontece quando o filme abre com a afirmação, jocosa (mas que pode ser encarada como séria), que o filme se baseia em fatos reais e que os personagens são amálgamas de pessoas existentes. Só vendo essa deliciosa comédia para entender o que Soderbergh quis dizer com isso...
Nota: 8,5 de 10
Mas, estou divagando. The Informant! foi erroneamente traduzido para o português. Não que O Desinformante! seja um título errado mas sim por que é um título óbvio demais, que não carrega as sutilezas do título original (a exclamação basta, não?) e do próprio filme.
Matt Damon está brilhante como o bioquímico Mark Whitacre que foi alçado ao cargo de vice-presidente de uma enorme empresa do agribusiness. Ele está gordo e estranhíssimo, mostrando a versatilidade do ator que não tem muito tempo estava pulando prédios e atirando em todos no papel de Jason Bourne. Em razão de um vírus que começa a prejudicar a empresa, Mark começa a passar informações vitais de fixação de preço (cartel) de sua empresa para o FBI. A agência, então, inicia uma enorme investigação, ao longo de vários anos, para descobrir o tamanho da conspiração.
Acontece que Mark Whitacre, rico, bem de vida, casado com uma adorável esposa e pai de três filhos, tem, digamos, um probleminha pessoal, uma certa condição que ele não consegue evitar. Sem entregar muito o ouro - ainda que não haja, na verdade, uma surpresa no filme - esse "probleminha" vai rolando como uma bola de neve que destrói a tudo e a todos em seu caminho. A narração de Mark é brilhante, jogando informações para a platéia ao mesmo tempo que nos alimenta com curiosidades do tipo "rádio-relógio", sem qualquer relevância imediata à trama.
Apesar do filme se passar na década de 90, Soderbergh procurou utilizar lentes e filtros, além de estilo de filmagem, bem característicos dos anos 70. Com isso, ele dá uma curiosa aparência anacrônica ao filme que só soma à experiência, parecendo que o diretor também sofre do mesmo mal que seu personagem Mark. O mesmo acontece quando o filme abre com a afirmação, jocosa (mas que pode ser encarada como séria), que o filme se baseia em fatos reais e que os personagens são amálgamas de pessoas existentes. Só vendo essa deliciosa comédia para entender o que Soderbergh quis dizer com isso...
Nota: 8,5 de 10
domingo, 20 de setembro de 2009
Club du Film 4.23 - Bob Le Flambeur (Bob, o Jogador)
O 23º filme do ano IV do Club du Film, foi "Bob, Le Flambeur" ("Bob, o Jogador"). assistido em 18.08.09. Trata-se de um filme francês, de baixíssimo orçamento, dirigido por Jean-Pierre Melville, em 1956, e estrelando Roger Duchesne como Robert "Bob" Montagné e, não poderia deixar de destacar, Isabelle Corey como a belíssima Anne.
O filme conta a estória da vida deprimente de Bob, um jogador inveterado, que há 20 anos anda na linha, depois de ser preso por roubo de banco. Ele vive uma vida boa mas solitária, toda noite visitando casas de jogos e apostando em tudo a toda a hora. São dados, cartas, cavalos, o que passar na frente, Bob aposta. O fruto do roubo de banco está acabando e Bob joga até seus últimos centavos.
A coisa complica quando Bob conhece a bela prostituta Anne e a apresenta ao seu pupilo Paolo (Cauchy). Os dois, pupilo e prostituta, começam um caso sob o olhar de Bob. Sem dinheiro, Bob é atraído para o "lado negro" novamente e ele e sua antiga gangue e novos membros recrutados para o evento, decidem roubar o cassino de Deauville, cidade balneária ao norte da França. Para aqueles que estão com uma sensação de deja vù, essa estória foi efetivamente a inspiração direta para as duas versões de Ocean's 11 (Onze Homens e um Segredo), a última delas com George Clooney e Brad Pitt.
É fantástica a cena em que Bob, desenhando a planta baixa do cassino em tamanho real, em um gramado, ensina como será o roubo a seus colegas. Nesse momento, o diretor faz uso de um flash forward, para mostrar a cena acontecendo em um mundo ideal, em que os bandidos entram em um cassino vazio, sem qualquer segurança. A cena é repetida ao final, mas de forma bem diferente.
Bob, muito mais do que precisar jogar, precisa viver novamente. Sua vida quieta nos últimos 20 anos não representa o que ele foi. Fica claro no filme que ele saboreia cada momento de seu plano e sua relutância inicial nada mais é do que "charme".
O diretor, um francês que adotou o sobrenome do autor norte-americano Herman Melville de Moby Dick, é econômico em suas locações e em suas filmagens. O filme parece ter sofrido muito para ser efetivamente filmado e os atores, pelo que se diz, quase nada ganharam. Mas isso não transparece no que vemos. Bob é, na verdade, um ótimo filme americano de gângster só que ambientado na França e com um quê de Nouvelle Vague. O crítico Roger Ebert, na verdade, dá a Melville, por esse filme, o título de precursor da "Onda Nova" francesa, que influenciaria a direção cinematográfica mundial por anos a fio.
Sobre o Club du Film:
Há pouco mais de três anos e meio, no dia 28 de dezembro de 2005, eu e alguns amigos decidimos assistir, semanalmente, grandes clássicos do cinema mundial. Esse encontro ficou jocosamente conhecido como Club du Film. Como guia, buscamos o livro The Great Movies do famoso crítico de cinema norte-americano Roger Ebert, editado em 2003. Começamos com Raging Bull e acabamos de assistir a todos os filmes listados no livro (uns 117 no total) no dia 18.12.2008. Em 29.12.2008, iniciamos a lista contida no livro The Great Movies II do mesmo autor, editado em 2006. São, novamente, mais de 100 filmes. Dessa vez, porém, tentarei fazer um post para cada filme que assistirmos, com meus comentários e notas de cada membro do grupo (com pseudônimos, claro).
Notas:
Minha: 8 de 10
Barada: 7,5 de 10
Nikto: 6,5 de 10
O filme conta a estória da vida deprimente de Bob, um jogador inveterado, que há 20 anos anda na linha, depois de ser preso por roubo de banco. Ele vive uma vida boa mas solitária, toda noite visitando casas de jogos e apostando em tudo a toda a hora. São dados, cartas, cavalos, o que passar na frente, Bob aposta. O fruto do roubo de banco está acabando e Bob joga até seus últimos centavos.
A coisa complica quando Bob conhece a bela prostituta Anne e a apresenta ao seu pupilo Paolo (Cauchy). Os dois, pupilo e prostituta, começam um caso sob o olhar de Bob. Sem dinheiro, Bob é atraído para o "lado negro" novamente e ele e sua antiga gangue e novos membros recrutados para o evento, decidem roubar o cassino de Deauville, cidade balneária ao norte da França. Para aqueles que estão com uma sensação de deja vù, essa estória foi efetivamente a inspiração direta para as duas versões de Ocean's 11 (Onze Homens e um Segredo), a última delas com George Clooney e Brad Pitt.
É fantástica a cena em que Bob, desenhando a planta baixa do cassino em tamanho real, em um gramado, ensina como será o roubo a seus colegas. Nesse momento, o diretor faz uso de um flash forward, para mostrar a cena acontecendo em um mundo ideal, em que os bandidos entram em um cassino vazio, sem qualquer segurança. A cena é repetida ao final, mas de forma bem diferente.
Bob, muito mais do que precisar jogar, precisa viver novamente. Sua vida quieta nos últimos 20 anos não representa o que ele foi. Fica claro no filme que ele saboreia cada momento de seu plano e sua relutância inicial nada mais é do que "charme".
O diretor, um francês que adotou o sobrenome do autor norte-americano Herman Melville de Moby Dick, é econômico em suas locações e em suas filmagens. O filme parece ter sofrido muito para ser efetivamente filmado e os atores, pelo que se diz, quase nada ganharam. Mas isso não transparece no que vemos. Bob é, na verdade, um ótimo filme americano de gângster só que ambientado na França e com um quê de Nouvelle Vague. O crítico Roger Ebert, na verdade, dá a Melville, por esse filme, o título de precursor da "Onda Nova" francesa, que influenciaria a direção cinematográfica mundial por anos a fio.
Sobre o Club du Film:
Há pouco mais de três anos e meio, no dia 28 de dezembro de 2005, eu e alguns amigos decidimos assistir, semanalmente, grandes clássicos do cinema mundial. Esse encontro ficou jocosamente conhecido como Club du Film. Como guia, buscamos o livro The Great Movies do famoso crítico de cinema norte-americano Roger Ebert, editado em 2003. Começamos com Raging Bull e acabamos de assistir a todos os filmes listados no livro (uns 117 no total) no dia 18.12.2008. Em 29.12.2008, iniciamos a lista contida no livro The Great Movies II do mesmo autor, editado em 2006. São, novamente, mais de 100 filmes. Dessa vez, porém, tentarei fazer um post para cada filme que assistirmos, com meus comentários e notas de cada membro do grupo (com pseudônimos, claro).
Notas:
Minha: 8 de 10
Barada: 7,5 de 10
Nikto: 6,5 de 10
Crítica de filme: Lost Boys: The Tribe
The Lost Boys é um clássico vampiresco dos anos 80. Ainda que esse filme, dirigido pelo terrível Joel Schumacher (lembram-se de Batman Forever e Batman & Robin? Pois bem, são dele...) e estrelando Kiefer Sutherland, Corey Feldman e Jason Patric, seja bem razoável, eu o culpo por ter sido o lançamento de 1987 que ofuscou completamente o excelente Near Dark, com Lance Henriksen e Bill Paxton, talvez o filme de vampiro que eu mais goste. Lost Boys: The Tribe, é a tardia continuação do clássico, produzida e lançada diretamente para o mercado de home video.
The Tribe tem a mesma premissa: vampiros adolescentes em Los Angeles fazem o que querem à noite e dois jovens acabam se envolvendo com eles. Os produtores conseguiram criar uma ligação, ainda que bem fraca, com o vilão do filme anterior, ao recrutarem Angus Sutherland, meio-irmão de Kiefer, para estrelear como o vampiro chefe. Conseguiram, ainda, achar Corey Feldman, que desapareceu completamente, para reprisar seu papel de Edgar Frog, o caçador de vampiros.
O filme começa nos apresentando a um casal de irmãos órfãos se mudando para a California. Um deles é Chris Emerson, um ex-surfista, vivido por Tad Hilgenbrink. Nicole, sua irmã (Autumn Reeser), logo se involve com Shane, o vampiro chefe da região, que inicia nela um processo de vampirização. Chris logo se socorre de Edgar Frog para, juntos, exterminarem a "tribo" de vampiros surfistas.
A estória nada mais é do que uma desculpa para cena atrás de cena de assassinatos ao estilo vampiresco. Muito sangue espirra, talvez até mais do que o corpo humano efetivamente tenha... Em suma é uma bobagem que está muito aquém de Let the Right One In e muito superior a 30 Days of Night mas que, apesar do esforço, não passa de um filmezinho mediano.
Nota: 5 de 10
The Tribe tem a mesma premissa: vampiros adolescentes em Los Angeles fazem o que querem à noite e dois jovens acabam se envolvendo com eles. Os produtores conseguiram criar uma ligação, ainda que bem fraca, com o vilão do filme anterior, ao recrutarem Angus Sutherland, meio-irmão de Kiefer, para estrelear como o vampiro chefe. Conseguiram, ainda, achar Corey Feldman, que desapareceu completamente, para reprisar seu papel de Edgar Frog, o caçador de vampiros.
O filme começa nos apresentando a um casal de irmãos órfãos se mudando para a California. Um deles é Chris Emerson, um ex-surfista, vivido por Tad Hilgenbrink. Nicole, sua irmã (Autumn Reeser), logo se involve com Shane, o vampiro chefe da região, que inicia nela um processo de vampirização. Chris logo se socorre de Edgar Frog para, juntos, exterminarem a "tribo" de vampiros surfistas.
A estória nada mais é do que uma desculpa para cena atrás de cena de assassinatos ao estilo vampiresco. Muito sangue espirra, talvez até mais do que o corpo humano efetivamente tenha... Em suma é uma bobagem que está muito aquém de Let the Right One In e muito superior a 30 Days of Night mas que, apesar do esforço, não passa de um filmezinho mediano.
Nota: 5 de 10
sexta-feira, 11 de setembro de 2009
Crítica de TV: Entourage - 2ª Temporada
A primeira temporada de Entourage, que comentei aqui, nos apresenta a Vincent Chase (Adrian Grenier) ator em carreira ascendente, e sua entourage, composta por seu irmão e ator esquecido, Drama (Kevin Dillon em ótimo papel), seu melhor amigo Eric (Kevin Connolly) e Turtle (Jerry Ferrara) o “faz tudo”. O excelente Jeremy Piven também é importante personagem, o agente de talentos Ari Gold.
Vincent e seu grupo, no final da primeira temporada, vão para New York participar de uma filmagem de um filme cabeça de um diretor extremamente autoral. A segunda temporada começa uns meses depois, com a trupe voltando para Los Angeles depois da filmagem.
Segue, então, a insistência de Ari em Vincent fazer o papel principal na filmagem de Aquaman, dirigido por nada mais nada menos que James Cameron (que aparece fazendo o papel dele mesmo em vários episódios). O que se sucede, porém, vai da negativa de Vincent em aceitar o papel, a luta de Ari e Eric para que aceite e tudo o mais que efetivamente deve acontecer em bastidores de filmes dessa monta. Fofocas, casos antigos, brigas de agentes, gastos desenfreados, reuniões com os atores e muito mais.
O mais bacana dessa temporada – e os produtores e roteiristas caminharam um caminho difícil mas recompensador aqui, já explico o porquê – é que ela mostra as “Hollywoods” que existem além de Hollywood. São episódios sobre o festival Sundance em Park City, Utah, outros sobre a enorme convenção de quadrinhos Comic-com em San Siego e por aí vai.
Classifiquei de “caminho difícil” pois, com isso, os roteiristas e produtores correram o risco de tornar o programa muito de nicho, de difícil entendimento para quem é de fora desse meio Hollywoodiano. Por mais famosos que sejam Sundance e Comic-com, poucos efetivamente de fora ou desinteressados por cinema/quadrinhos conhecem o festival e a convenção e sua importância para a indústria. Mas acredito que os realizadores de Entourage conseguiram escapar desse possível “tiro no pé” e apresentaram as situações de forma inteligente e engraçada.
Entourage é uma série despretensiosa mas que revela efetivamente o que está pelos bastidores de uma das indústrias mais interessantes do mundo. Qualquer um que tenha interesse em cinema deveria assistir Entourage. Na verdade, mesmo aqueles que não necessariamente se empolgam com esse mundo terão em Entourage um bom divertimento.
Nota: 8,5 de 10
Vincent e seu grupo, no final da primeira temporada, vão para New York participar de uma filmagem de um filme cabeça de um diretor extremamente autoral. A segunda temporada começa uns meses depois, com a trupe voltando para Los Angeles depois da filmagem.
Segue, então, a insistência de Ari em Vincent fazer o papel principal na filmagem de Aquaman, dirigido por nada mais nada menos que James Cameron (que aparece fazendo o papel dele mesmo em vários episódios). O que se sucede, porém, vai da negativa de Vincent em aceitar o papel, a luta de Ari e Eric para que aceite e tudo o mais que efetivamente deve acontecer em bastidores de filmes dessa monta. Fofocas, casos antigos, brigas de agentes, gastos desenfreados, reuniões com os atores e muito mais.
O mais bacana dessa temporada – e os produtores e roteiristas caminharam um caminho difícil mas recompensador aqui, já explico o porquê – é que ela mostra as “Hollywoods” que existem além de Hollywood. São episódios sobre o festival Sundance em Park City, Utah, outros sobre a enorme convenção de quadrinhos Comic-com em San Siego e por aí vai.
Classifiquei de “caminho difícil” pois, com isso, os roteiristas e produtores correram o risco de tornar o programa muito de nicho, de difícil entendimento para quem é de fora desse meio Hollywoodiano. Por mais famosos que sejam Sundance e Comic-com, poucos efetivamente de fora ou desinteressados por cinema/quadrinhos conhecem o festival e a convenção e sua importância para a indústria. Mas acredito que os realizadores de Entourage conseguiram escapar desse possível “tiro no pé” e apresentaram as situações de forma inteligente e engraçada.
Entourage é uma série despretensiosa mas que revela efetivamente o que está pelos bastidores de uma das indústrias mais interessantes do mundo. Qualquer um que tenha interesse em cinema deveria assistir Entourage. Na verdade, mesmo aqueles que não necessariamente se empolgam com esse mundo terão em Entourage um bom divertimento.
Nota: 8,5 de 10
Crítica de filme: X-Men Origins: Wolverine
Wolverine é um personagem de quadrinhos da Marvel, mutante, canadense, baixinho, com alto grau de irritabilidade, um fator de cura que o permite aguentar os mais absurdos ferimentos e retarda seu envelhecimento (o cara nasceu no século XIX e parece ter ainda uns 30 e muitos ou 40 e poucos, dependendo de quem o desenha). Tem, ainda, um esqueleto indestrutível de adamantium, um metal fictício e, como marca registrada, além do corte de cabelo, digamos, incomum, é o orgulhoso detentor de garras de metal que saem de suas mãos e dilaceram inimigos.
Wolverine é uma máquina de matar e uma das propriedades mais valiosas da Marvel, sendo protagonistas de diversas revistas da editora e “astro convidado” em tantas outras. Tamanho é seu sucesso que os três filmes dos X-Men (grupo de super-heróis mutantes da Marvel) mais parecem filmes que poderiam ter como título “Wolverine e Aqueles Outros Mutantes que Aparecem Vez ou Outra”. No desenho animado mais recente, os produtores não se deram como rogados e mandaram mesmo o título Wolverine and the X-Men, em clara demonstração do valor da criação de Len Wein e John Romita Jr. na década de 70 (ele apareceu pela primeira vez como coadjuvante em um número da revista do Hulk em 1974).
Ah, já ia me esquecendo. Outra característica marcante do personagem é que ele não se lembra do passado, apenas que se chama Logan. Esse mistério em volta do personagem perdurou por décadas, com pequenas revelações aqui e ali. Somente muito recentemente, a partir de uma ótima minissérie em quadrinhos chamada Origin, cada detalhe do passado de Wolverine foi sendo revelado pela Marvel em uma coleção que não li nem quero ler pois acho que desmistifica o personagem, além de eu ter lido resenhas arrasadoras das estórias.
Por quê estou escrevendo isso tudo?, vocês perguntarão. Simplesmente por que, quando soube que os filmes dos X-Men ganhariam um spin-off sobre a origem de Wolverine, dois pensamentos me passaram pela cabeça. O primeiro foi que era óbvio que, com o sucesso dos filmes do grupo mutante, era natural um spin-off dessa natureza. O segundo foi: que péssima idéia!
O filme estreou e fez mediano sucesso depois de algumas refilmagens e a famosa polêmica do vazamento de uma cópia ainda sem efeitos totalmente finalizados na internet. Eu disse para mim mesmo que esperaria o DVD pois tinha certeza que o filme seria ruim tanto sob o ponto de vista de alguém que gosta de quadrinhos como eu como por uma pessoa que apenas gosta de cinema.
Assim, estava em minha locadora quando me deparei com o Blu-Ray nacional de Wolverine à disposição. Era tentação demais e acabei alugando.
O filme começa na linha de Origin, mostrando Wolverine quando criança, no momento em que descobre que tem garras de osso saindo das mãos. Esse rápido intróito é seguido de uma abertura (com os créditos) mostrando Wolverine (Hugh Jackman) e seu meio-irmão Victor Creed, o Dentes de Sabre (o sempre ótimo Liev Schreiber) lutando juntos na Guerra Civil americana, na 1ª Guerra Mundial, na 2ª Guerra, na Guerra da Coréia e na Guerra do Vietnã. Acabada essa abertura, já vemos Logan e Victor como agentes especiais em um grupo de mutantes assassinos comandados por Stryker (Danny Huston).
Posso dizer que a melhor parte do filme é a abertura e isso é obviamente, um péssimo sinal. No lugar de explorar o desenvolvimento do personagem e sua relação com o irmão, os roteiristas partiram logo para colocar Logan contra seu grupo de mutantes e para dentro do programa Arma X, onde ganha a cobertura de adamantium sobre seus ossos.
Depois que ele consegue as garras de metal é que o filme realmente vai ladeira abaixo. Nada mais faz sentido e os furos no roteiro são abissais, risíveis e patéticos.
Mas os problemas não param por aí. Os efeitos especiais são absolutamente mal feitos, dando a entender que estamos efetivamente assistindo a um filme inacabado, sem os retoques finais. Em determinada cena, em que Logan está com a família “Kent” em um rancho (só vendo para entender o quão ridícula é essa cena), ele corta a pia do banheiro com as recém adquiridas garras de metal. Depois, olha para elas que nem um idiota. As garras parecem de papelão pintado (sim, é nesse nível). Se acham que estou exagerando, vejam o filme procurando pelos problemas e vocês verão que eles estão lá.
E eu realmente não entendo a necessidade de se colocar na estória dezenas de mutantes diferentes. Wolverine já tem estória suficiente para segurar sozinho um filme nas costas. Para que colocar Agent Zero, Deadpool (ou uma versão de Deadpool), Wraith, Blob, Gambit, White Queen, Silverfox e outros no meio? Tem até Cyclops e Professor X!!! Fica tudo muito forçado e imbecil. É só pelo fator geek de ver mutantes na tela do cinema mesmo.
Por exemplo, a entrada de Gambit na estória é uma das coisas mais desnecessárias do mundo, em clara “forçação de barra” para mostrar esse herói que é querido da galera (eu, particularmente, nunca vi nada demais nele). Seria muito melhor se Wolverine tivesse que lidar com o “mundo real” e perseguições por soldados do exército e não por seres super poderosos.
Apenas para ilustrar o tamanho das besteiras feitas nesse filme, listarei, abaixo, apenas um punhado das incongruências absurdas que achei no filme, sendo que nenhuma delas parte de uma comparação do personagem nos quadrinhos e no cinema pois uma coisa é uma coisa é outra coisa é outra coisa, se é que vocês me entendem. Para isso, porém, terei que revelar vários pontos importantes da trama pelo que sugiro que, quem não viu o filme – e ainda quer ver – pule essa parte.
Novamente, há SPOILERS abaixo. Leiam apenas se já viram o filme ou se não se importam em saber detalhes do que acontece.
Vamos lá:
- Logan é por vezes chamado de Logan e outras de Jimmy (apelido de James, seu nome verdadeiro) sem que haja qualquer explicação para o uso de Logan no filme. Só quem leu Origin sabe que Logan é nome do personagem que o jovem Wolverine mata no começo do fime;
- Silverfox finge estar morta e Victor joga sangue por cima dela para parecer que é dela. Wolverine chega e acredita que ela morreu apesar de ter olfato ultra sensível e poder muito bem dintinguir uma coisa da outra. E nem me venha dizer que o poder de sugestão de Silverfox é a explicação para isso pois ela está drogada, quase efetivamente morta nessa cena;
- Stryker cria uma elaboradíssima trama, que demora uns 6 anos para ficar pronta, apenas para colocar adamantium nos ossos de Wolverine e ver se ele agüenta a fusão. Não faz o menor sentido em querer apenas esse resultado. Por que não apagar logo a mente de Wolverine (sem dizer que vai apagar que nem o idiota faz) e usar Wolverine e não Wade (o coitado do Deadpool) como cobaia para o Weapon XI???
- Em luta, Victor quebra as garras de osso de uma mão de Wolverine. Logo em seguida, no Projeto Weapon X, Logan recebe o banho de adamantium que reveste – vejam bem, REVESTE – seus ossos e ele aparece com as garras inteirinhas;
- Depois de transformá-lo em um ser basicamente indestrutível, o idiota do Stryker manda Agent Zero matar Wolverine com um rifle de sniper e balas comuns!!! Como assim? O cara não acabou de ter os ossos revestidos de adamantium???
- Weapon XI, a super arma secreta de Stryker, que ele leva muitos anos para completar, é o inimigo mais fácil do mundo de derrotar;
- Na fuga dos mutantes, Cyclops começa a receber mensagens telepáticas do Professor X. Ora, se o Professor X sabia que eles estavam presos, por que não foi lá antes resgatá-los. Por quê esperou até o limite para fazer isso?
- Nessa mesma fuga, se o Professor X pode comandar a vontade de milhares de pessoas, como vimos nos filmes dos X-Men, por que ele simplesmente não manda Stryker soltar os mutantes? A presença do Professor X, para criar o “fator cool”, estraga qualquer tentativa de “realidade” que se pode esperar de um fime desses. Magneto, em X-Men, tem que usar um capacete para evitar que o Professor X o controle mentalmente. Mas Stryker não precisa de nada, claro;
- Que jaulas são aquelas que prendem os jovens mutantes? São de ferro comum, para prender passarinhos? Sério, algum mutante ali tem que ter o poder básico de destruir a grade. Ora, mesmo sem poder algum dava para fazer isso...;
- Gambit odeia Stryker. Ao ver Wolverine e Victor - que ele acha que são agentes de Stryker - caindo no pau, no lugar de deixar um matar o outro, ele interfere. Para que? Para mostrar seus poderes bacanas?
- Ainda sobre Gambit, ele parece ser o fugitivo mais fácil do mundo de achar: em pleno cassino de Las Vegas!
- Stryker tem mais uma brilhante idéia: usar um revólver com balas de adamantium não para matar Wolverine mas sim para apagar sua memória. Com assim??? Quer dizer então que é só dar um tiro na cabeça de alguém para automaticamente essa pessoa perder a memória? Bem científico isso...
- Ainda sobre balas de adamantium, por que raios Stryker não dá um rifle equipado com elas para o Agent Zero liquidar Logan já que, aparentemente, o poder mutante de Agent Zero é sempre acertar no alvo?
- Se Silverfox consegue hipnotizar através do tato, porque ela não hipnotizou Logan para ele aceitar o adamantium, evitando a trama complicada montada por Stryker?
- Melhor que isso, se Silverfox faz o que faz porque Stryker tem sua irmã presa, era só ela hipnotizar Stryker para soltar as duas, não é mesmo?
- Stryker, quando Wolverine acaba de ter seus ossos revestidos, sussurra ordem para que apaguem a memória do mutante. Ora, por quê esperar torná-lo indestrutível para fazer isso? Não era mais lógico começar exatamente por essa etapa?
E por aí vai o show de horrores. São tantos furos absurdos que é impossível levar esse filme a sério, mesmo considerando que filmes de super heróis, em geral, não são para ser levados tão assim a sério. No entanto, estou confiante em dizer que esse é o pior filme do gênero, pior que os odiados Elektra e Daredevil e pior até mesmo que qualquer uma das três versões de Punihser. Wolverine é um personagem tão bom que qualquer um escreveria um roteiro razoável para um filme sobre ele. Todos menos, aparentemente, os roteiristas David Benioff e Skip Woods, autores dessa coisa amorfa que infelizmente assisti.
Esse verão norte-americano eu vou te contar... Devo ter perdido uns 15 pontos do meu Q.I. entre Transformers2, G .I. Joe e Wolverine...
Ah, já ia me esquecendo. O Blu-Ray brasileiro do filme é triste. Não pela imagem mas pela falta de tudo, inclusive de menu. Não dá nem para ver o filme em inglês sem legendas ou em inglês com legendas em inglês. Somos forçados a escolher dentre as rígidas opções da tela inicial que é uma tela vagabunda dublê de menu. E o pior de tudo é que o som não é sem compressão, de forma a permitir o melhor uso do Blu-Ray. Deve ser por que acham que os brasileiros não fazem nem idéia do que é som sem compressão. Espero - ainda que essa não seja uma justificativa aceitável - que esse seja o Blu-Ray específico para locação.
Nota: 1 de 10
Wolverine é uma máquina de matar e uma das propriedades mais valiosas da Marvel, sendo protagonistas de diversas revistas da editora e “astro convidado” em tantas outras. Tamanho é seu sucesso que os três filmes dos X-Men (grupo de super-heróis mutantes da Marvel) mais parecem filmes que poderiam ter como título “Wolverine e Aqueles Outros Mutantes que Aparecem Vez ou Outra”. No desenho animado mais recente, os produtores não se deram como rogados e mandaram mesmo o título Wolverine and the X-Men, em clara demonstração do valor da criação de Len Wein e John Romita Jr. na década de 70 (ele apareceu pela primeira vez como coadjuvante em um número da revista do Hulk em 1974).
Ah, já ia me esquecendo. Outra característica marcante do personagem é que ele não se lembra do passado, apenas que se chama Logan. Esse mistério em volta do personagem perdurou por décadas, com pequenas revelações aqui e ali. Somente muito recentemente, a partir de uma ótima minissérie em quadrinhos chamada Origin, cada detalhe do passado de Wolverine foi sendo revelado pela Marvel em uma coleção que não li nem quero ler pois acho que desmistifica o personagem, além de eu ter lido resenhas arrasadoras das estórias.
Por quê estou escrevendo isso tudo?, vocês perguntarão. Simplesmente por que, quando soube que os filmes dos X-Men ganhariam um spin-off sobre a origem de Wolverine, dois pensamentos me passaram pela cabeça. O primeiro foi que era óbvio que, com o sucesso dos filmes do grupo mutante, era natural um spin-off dessa natureza. O segundo foi: que péssima idéia!
O filme estreou e fez mediano sucesso depois de algumas refilmagens e a famosa polêmica do vazamento de uma cópia ainda sem efeitos totalmente finalizados na internet. Eu disse para mim mesmo que esperaria o DVD pois tinha certeza que o filme seria ruim tanto sob o ponto de vista de alguém que gosta de quadrinhos como eu como por uma pessoa que apenas gosta de cinema.
Assim, estava em minha locadora quando me deparei com o Blu-Ray nacional de Wolverine à disposição. Era tentação demais e acabei alugando.
O filme começa na linha de Origin, mostrando Wolverine quando criança, no momento em que descobre que tem garras de osso saindo das mãos. Esse rápido intróito é seguido de uma abertura (com os créditos) mostrando Wolverine (Hugh Jackman) e seu meio-irmão Victor Creed, o Dentes de Sabre (o sempre ótimo Liev Schreiber) lutando juntos na Guerra Civil americana, na 1ª Guerra Mundial, na 2ª Guerra, na Guerra da Coréia e na Guerra do Vietnã. Acabada essa abertura, já vemos Logan e Victor como agentes especiais em um grupo de mutantes assassinos comandados por Stryker (Danny Huston).
Posso dizer que a melhor parte do filme é a abertura e isso é obviamente, um péssimo sinal. No lugar de explorar o desenvolvimento do personagem e sua relação com o irmão, os roteiristas partiram logo para colocar Logan contra seu grupo de mutantes e para dentro do programa Arma X, onde ganha a cobertura de adamantium sobre seus ossos.
Depois que ele consegue as garras de metal é que o filme realmente vai ladeira abaixo. Nada mais faz sentido e os furos no roteiro são abissais, risíveis e patéticos.
Mas os problemas não param por aí. Os efeitos especiais são absolutamente mal feitos, dando a entender que estamos efetivamente assistindo a um filme inacabado, sem os retoques finais. Em determinada cena, em que Logan está com a família “Kent” em um rancho (só vendo para entender o quão ridícula é essa cena), ele corta a pia do banheiro com as recém adquiridas garras de metal. Depois, olha para elas que nem um idiota. As garras parecem de papelão pintado (sim, é nesse nível). Se acham que estou exagerando, vejam o filme procurando pelos problemas e vocês verão que eles estão lá.
E eu realmente não entendo a necessidade de se colocar na estória dezenas de mutantes diferentes. Wolverine já tem estória suficiente para segurar sozinho um filme nas costas. Para que colocar Agent Zero, Deadpool (ou uma versão de Deadpool), Wraith, Blob, Gambit, White Queen, Silverfox e outros no meio? Tem até Cyclops e Professor X!!! Fica tudo muito forçado e imbecil. É só pelo fator geek de ver mutantes na tela do cinema mesmo.
Por exemplo, a entrada de Gambit na estória é uma das coisas mais desnecessárias do mundo, em clara “forçação de barra” para mostrar esse herói que é querido da galera (eu, particularmente, nunca vi nada demais nele). Seria muito melhor se Wolverine tivesse que lidar com o “mundo real” e perseguições por soldados do exército e não por seres super poderosos.
Apenas para ilustrar o tamanho das besteiras feitas nesse filme, listarei, abaixo, apenas um punhado das incongruências absurdas que achei no filme, sendo que nenhuma delas parte de uma comparação do personagem nos quadrinhos e no cinema pois uma coisa é uma coisa é outra coisa é outra coisa, se é que vocês me entendem. Para isso, porém, terei que revelar vários pontos importantes da trama pelo que sugiro que, quem não viu o filme – e ainda quer ver – pule essa parte.
Novamente, há SPOILERS abaixo. Leiam apenas se já viram o filme ou se não se importam em saber detalhes do que acontece.
Vamos lá:
- Logan é por vezes chamado de Logan e outras de Jimmy (apelido de James, seu nome verdadeiro) sem que haja qualquer explicação para o uso de Logan no filme. Só quem leu Origin sabe que Logan é nome do personagem que o jovem Wolverine mata no começo do fime;
- Silverfox finge estar morta e Victor joga sangue por cima dela para parecer que é dela. Wolverine chega e acredita que ela morreu apesar de ter olfato ultra sensível e poder muito bem dintinguir uma coisa da outra. E nem me venha dizer que o poder de sugestão de Silverfox é a explicação para isso pois ela está drogada, quase efetivamente morta nessa cena;
- Stryker cria uma elaboradíssima trama, que demora uns 6 anos para ficar pronta, apenas para colocar adamantium nos ossos de Wolverine e ver se ele agüenta a fusão. Não faz o menor sentido em querer apenas esse resultado. Por que não apagar logo a mente de Wolverine (sem dizer que vai apagar que nem o idiota faz) e usar Wolverine e não Wade (o coitado do Deadpool) como cobaia para o Weapon XI???
- Em luta, Victor quebra as garras de osso de uma mão de Wolverine. Logo em seguida, no Projeto Weapon X, Logan recebe o banho de adamantium que reveste – vejam bem, REVESTE – seus ossos e ele aparece com as garras inteirinhas;
- Depois de transformá-lo em um ser basicamente indestrutível, o idiota do Stryker manda Agent Zero matar Wolverine com um rifle de sniper e balas comuns!!! Como assim? O cara não acabou de ter os ossos revestidos de adamantium???
- Weapon XI, a super arma secreta de Stryker, que ele leva muitos anos para completar, é o inimigo mais fácil do mundo de derrotar;
- Na fuga dos mutantes, Cyclops começa a receber mensagens telepáticas do Professor X. Ora, se o Professor X sabia que eles estavam presos, por que não foi lá antes resgatá-los. Por quê esperou até o limite para fazer isso?
- Nessa mesma fuga, se o Professor X pode comandar a vontade de milhares de pessoas, como vimos nos filmes dos X-Men, por que ele simplesmente não manda Stryker soltar os mutantes? A presença do Professor X, para criar o “fator cool”, estraga qualquer tentativa de “realidade” que se pode esperar de um fime desses. Magneto, em X-Men, tem que usar um capacete para evitar que o Professor X o controle mentalmente. Mas Stryker não precisa de nada, claro;
- Que jaulas são aquelas que prendem os jovens mutantes? São de ferro comum, para prender passarinhos? Sério, algum mutante ali tem que ter o poder básico de destruir a grade. Ora, mesmo sem poder algum dava para fazer isso...;
- Gambit odeia Stryker. Ao ver Wolverine e Victor - que ele acha que são agentes de Stryker - caindo no pau, no lugar de deixar um matar o outro, ele interfere. Para que? Para mostrar seus poderes bacanas?
- Ainda sobre Gambit, ele parece ser o fugitivo mais fácil do mundo de achar: em pleno cassino de Las Vegas!
- Stryker tem mais uma brilhante idéia: usar um revólver com balas de adamantium não para matar Wolverine mas sim para apagar sua memória. Com assim??? Quer dizer então que é só dar um tiro na cabeça de alguém para automaticamente essa pessoa perder a memória? Bem científico isso...
- Ainda sobre balas de adamantium, por que raios Stryker não dá um rifle equipado com elas para o Agent Zero liquidar Logan já que, aparentemente, o poder mutante de Agent Zero é sempre acertar no alvo?
- Se Silverfox consegue hipnotizar através do tato, porque ela não hipnotizou Logan para ele aceitar o adamantium, evitando a trama complicada montada por Stryker?
- Melhor que isso, se Silverfox faz o que faz porque Stryker tem sua irmã presa, era só ela hipnotizar Stryker para soltar as duas, não é mesmo?
- Stryker, quando Wolverine acaba de ter seus ossos revestidos, sussurra ordem para que apaguem a memória do mutante. Ora, por quê esperar torná-lo indestrutível para fazer isso? Não era mais lógico começar exatamente por essa etapa?
E por aí vai o show de horrores. São tantos furos absurdos que é impossível levar esse filme a sério, mesmo considerando que filmes de super heróis, em geral, não são para ser levados tão assim a sério. No entanto, estou confiante em dizer que esse é o pior filme do gênero, pior que os odiados Elektra e Daredevil e pior até mesmo que qualquer uma das três versões de Punihser. Wolverine é um personagem tão bom que qualquer um escreveria um roteiro razoável para um filme sobre ele. Todos menos, aparentemente, os roteiristas David Benioff e Skip Woods, autores dessa coisa amorfa que infelizmente assisti.
Esse verão norte-americano eu vou te contar... Devo ter perdido uns 15 pontos do meu Q.I. entre Transformers
Ah, já ia me esquecendo. O Blu-Ray brasileiro do filme é triste. Não pela imagem mas pela falta de tudo, inclusive de menu. Não dá nem para ver o filme em inglês sem legendas ou em inglês com legendas em inglês. Somos forçados a escolher dentre as rígidas opções da tela inicial que é uma tela vagabunda dublê de menu. E o pior de tudo é que o som não é sem compressão, de forma a permitir o melhor uso do Blu-Ray. Deve ser por que acham que os brasileiros não fazem nem idéia do que é som sem compressão. Espero - ainda que essa não seja uma justificativa aceitável - que esse seja o Blu-Ray específico para locação.
Nota: 1 de 10
quinta-feira, 10 de setembro de 2009
Crítica de TV: Terminator: The Sarah Connor Chronicles - 1ª Temporada
Sarah Connor Chronicles é uma série de TV baseada na mitologia do Exterminador do Futuro que nasceu em 2008 e, por falta de audiência, veio a falecer nesse ano, com apenas duas temporadas de vida. Na verdade, nem bem foram duas temporadas completas pois a primeira só teve 9 episódios pois sofreu com a última greve dos roteiristas de Hollywood.
No entanto, Sarah Connor Chronicles, a primeira temporada, é melhor que o fraquíssimo Terminator Salvation desse ano, comentado aqui e, arrisco dizer, melhor também que Terminator 3: Rise of the Machines. Tanto é assim que a estória começa algum tempo depois dos eventos de Terminator 2: Judgement Day e, em seu desenrolar, absolutamente nega a existência da parte 3, o que é bom.
Sarah Connor Chronicles, como o nome deixa claro, foca em Sarah Connor, mãe de John Connor, o futuro salvador da humanidade. A série abre e ela está no meio oeste americano, com identidade falsa, sempre sendo exageradamente cuidadosa com seu filho. Por um impulso, Sarah abandona seu namorado e ela e o filho partem novamente para recomeçar a vida, apesar dos protestos dele. Esse evento cataliza sua localização por um andróide exterminador vindo do futuro para eliminar John Connor mas, ao mesmo tempo, permite que uma exterminadora enviada pelo próprio John Connor mais velho, equilibre as forças. De um lado, agora, temos Cromartie, o bandido à la Schwarzenegger e, do outro, uma exterminadora com cara de adolescente batizada de Cameron (adivinhem em homenagem a quem...). Convenientemente, porém, nenhum dos dois é um modelo T-1000, de metal líquido. São robôs "normais" que saem no tapa o tempo inteiro. Tenho certeza que a razão foi para não encarecer a produção com muita computação gráfica.
Logo no começo, uma interessante jogada com viagem no tempo, que não vou contar para não estragar, muda o rumo da estória e Sarah Connor, seu filho e Cameron, tentam, mais uma vez reconstruir suas vidas e destruir Skynet, a rede sapiente de computadores que, um dia, destruirá o mundo.
A série tem todos os elementos que são a marca registrada da franquia do Exterminador do Futuro e uma estória muito interessante que honra o que veio antes ao mesmo tempo que inova em alguns aspectos. Os efeitos também são bem decentes para uma série de televisão.
O que mais chama atenção, porém, para quem conhece e gosta dos filmes da série, é a caracterização de Sarah Connor. Seria difícil aturar uma Linda Hamilton machona e paranóica como vemos em T2. Entra, então, a inglesa Lena Headey para emprestar seu caráter ao personagem, sem, porém deformá-lo. Sarah é durona sim mas é sentimental e aceita ouvir os outros. Não é um soldado e sim uma mãe querendo proteger o filho mas que compreende que ser mãe é também soltar um pouco seu filho para o mundo e não encapsulá-lo.
John Connor, vivido pelo ator Thomas Dekker, ao contrário, é bem parecido com o John Connor que conhecemos em T2 mas sem a atitude rebelde extremada. A exterminadora Cameron é retratada por Summer Glau de forma razoavelmente eficiente. Digo razoavelmente pois precisei de alguns capítulos para efetivamente engolir que uma menina é capaz de descer a lenha em marmanjos e em um exterminador homem do porte do Governator. Até dá para aceitar mas fica mais fácil de engolir quando um personagem masculino (não robô) é introduzido no meio da temporada para criar equilíbrio. Não vou contar quem é pois é spoiler mas também está dentro da mitologia da série e sua entrada funciona direitinho, sem percalços e sem parecer forçado.
Sarah Connor Chronicles era uma série com potencial, pelo menos é isso que mostra a primeira temporada. Não sei se os produtores, na segunda temporada, deram uma de Lost, e começaram a enxertar um monte de maluquices para complicar a estória mas logo descobrirei. De toda forma, se Michael Ferris e John D. Brancato, roteiristas de Terminator Salvation, tivessem olhado para a série de TV e se inspirado um pouco, teriam feito algo anos luz melhor e mais coerente.
Nota: 7 de 10
No entanto, Sarah Connor Chronicles, a primeira temporada, é melhor que o fraquíssimo Terminator Salvation desse ano, comentado aqui e, arrisco dizer, melhor também que Terminator 3: Rise of the Machines. Tanto é assim que a estória começa algum tempo depois dos eventos de Terminator 2: Judgement Day e, em seu desenrolar, absolutamente nega a existência da parte 3, o que é bom.
Sarah Connor Chronicles, como o nome deixa claro, foca em Sarah Connor, mãe de John Connor, o futuro salvador da humanidade. A série abre e ela está no meio oeste americano, com identidade falsa, sempre sendo exageradamente cuidadosa com seu filho. Por um impulso, Sarah abandona seu namorado e ela e o filho partem novamente para recomeçar a vida, apesar dos protestos dele. Esse evento cataliza sua localização por um andróide exterminador vindo do futuro para eliminar John Connor mas, ao mesmo tempo, permite que uma exterminadora enviada pelo próprio John Connor mais velho, equilibre as forças. De um lado, agora, temos Cromartie, o bandido à la Schwarzenegger e, do outro, uma exterminadora com cara de adolescente batizada de Cameron (adivinhem em homenagem a quem...). Convenientemente, porém, nenhum dos dois é um modelo T-1000, de metal líquido. São robôs "normais" que saem no tapa o tempo inteiro. Tenho certeza que a razão foi para não encarecer a produção com muita computação gráfica.
Logo no começo, uma interessante jogada com viagem no tempo, que não vou contar para não estragar, muda o rumo da estória e Sarah Connor, seu filho e Cameron, tentam, mais uma vez reconstruir suas vidas e destruir Skynet, a rede sapiente de computadores que, um dia, destruirá o mundo.
A série tem todos os elementos que são a marca registrada da franquia do Exterminador do Futuro e uma estória muito interessante que honra o que veio antes ao mesmo tempo que inova em alguns aspectos. Os efeitos também são bem decentes para uma série de televisão.
O que mais chama atenção, porém, para quem conhece e gosta dos filmes da série, é a caracterização de Sarah Connor. Seria difícil aturar uma Linda Hamilton machona e paranóica como vemos em T2. Entra, então, a inglesa Lena Headey para emprestar seu caráter ao personagem, sem, porém deformá-lo. Sarah é durona sim mas é sentimental e aceita ouvir os outros. Não é um soldado e sim uma mãe querendo proteger o filho mas que compreende que ser mãe é também soltar um pouco seu filho para o mundo e não encapsulá-lo.
John Connor, vivido pelo ator Thomas Dekker, ao contrário, é bem parecido com o John Connor que conhecemos em T2 mas sem a atitude rebelde extremada. A exterminadora Cameron é retratada por Summer Glau de forma razoavelmente eficiente. Digo razoavelmente pois precisei de alguns capítulos para efetivamente engolir que uma menina é capaz de descer a lenha em marmanjos e em um exterminador homem do porte do Governator. Até dá para aceitar mas fica mais fácil de engolir quando um personagem masculino (não robô) é introduzido no meio da temporada para criar equilíbrio. Não vou contar quem é pois é spoiler mas também está dentro da mitologia da série e sua entrada funciona direitinho, sem percalços e sem parecer forçado.
Sarah Connor Chronicles era uma série com potencial, pelo menos é isso que mostra a primeira temporada. Não sei se os produtores, na segunda temporada, deram uma de Lost, e começaram a enxertar um monte de maluquices para complicar a estória mas logo descobrirei. De toda forma, se Michael Ferris e John D. Brancato, roteiristas de Terminator Salvation, tivessem olhado para a série de TV e se inspirado um pouco, teriam feito algo anos luz melhor e mais coerente.
Nota: 7 de 10
quarta-feira, 9 de setembro de 2009
Crítica de TV: Mad Men - 1ª Temporada
Mad Men, para quem não sabe, é uma série de TV da AMC que conta a estória de uma agência de publicidade em plena New York dos anos 60 pelos olhos principalmente de um brilhante mas misterioso publicitário e diretor de criação da agência, chamado Don Draper (Jon Hamm, excelente). A série, já com sua terceira temporada em andamento, foi laureada com diversos prêmios Emmy, o Oscar da TV. Em 2008, ganhou 6 Emmys, inclusive o de melhor série dramática e concorreu a mais 10. Em 20 de setembro próximo, terá a chance de ganhar mais 11 Emmys.
Toda essa atenção aguçou minha curiosidade e parti para comprar Mad Men. Definitivamente, a série é tudo isso que dizem sim e mais um pouco. Para começar, não há como deixar seu queixo cair pela inacreditável reconstituição de época. Não vivi os anos 60 mas já li e vi filmes sobre a época e parece-me que os produtores foram no alvo. O cuidado com a Nova Iorque e com o figurino dos personagens é suficiente para encher os olhos. O mesmo se dá com o tratamento de questões hoje polêmicas: o fumo, o feminismo, o comunismo, o consumismo e outras.
Sobre o fumo, cabe um parênteses. Para nós que, hoje, estamos acostumados a ver filmes assépticos, em que as pessoas nem reconhecem a existência de um objeto de consumo - e vício - chamado cigarro, assistir aos primeiros capítulos de Mad Men é uma experiência até, eu diria, estranhamente incômoda. Todos os personagens (ok, quase todos) fumam e fumam em qualquer lugar e em muita quantidade. Nada de sair de sua sala para ir ao fumódromo. Acende-se cigarros e mais cigarros em casa, no hall de elevadores, na sala de reunião e isso sem nem perguntar se a pessoa ao lado se incomoda. É tanto cigarro que a série parece feder a cigarro.
Mas o que chama atenção mesmo em Mad Men (uma brilhante brincadeira, aparentemente usada na época, com sua tradução literal - homens loucos - com Madison Avenue, onde ficavam as grandes agências de publicidade e com a expressão "ad men", publicitário) é a bem costurada estória que entrelaça a vida profissional e particular de seus personagens. Temos Don Draper, o brilhante publicitário com sua vida tipicamente americana. Trabalha na cidade grande mas mora na casinha de subúrbio com sua linda esposa (Betty Draper vivida pela bela mas comum January Jones) e dois filhos, ao mesmo tempo que tem uma amante com quem libera seus instintos, digamos, mais selvagens. Há seu chefe, Roger Sterling (vivido pelo excelente John Slattery) que odeia ficar com a esposa e arruma qualquer desculpa para farrear. Há, ainda, Pete Campbell (interpretado à irritante perfeição por Vincent Kartheiser), um riquinho que só conseguiu emprego por ser filho de quem é e que quer por que quer subir na vida, mesmo que para isso tenha que atropelar seus superiores com todas as jogadas sujas que puder esconder em suas mangas.
Mas o filme não é um "clube do bolinha" ainda que o ponto de vista seja majoritariamente masculino. Há a interessante personagem da esposa de Don Draper que vive com o dilema entre de um lado ser a modelo perfeita de esposa e, de outro, literalmente, ser modelo. Há, também, Joan Holloway (a também bela - e essa nada comum - Christina Hendricks), a fogosa chefe das secretárias que sabe tudo sobre todos no escritório. Por último e principalmente no elenco feminino, temos Peggy Olson (Elisabeth Moss, excelente) no papel da nova secretária de Don Draper que, completamente sem querer, vai rapidamente subindo na vida, para o espanto e inveja de todos ao redor, especialmente Joan Holloway.
Toda essa riqueza de detalhes vem emoldurando um passado negro para Don Draper e as excelentes campanhas publicitárias (e reuniões com clientes) que sua equipe vai criando ao longo dos episódios. Logo na abertura vemos Don e seu grupo matutando para criar a campanha nova do Lucky Strike (o cigarro, lembram?). Mais para frente, em ótimo e comovente episódio, vemos Don criar, quase que de instinto, a campanha do aparelho de slides da Kodak (slides, para quem é da era da informática, são aqueles positivos de fotos dentro de um quadrado branco de papel ou de plástico que eram usados em projetores para se mostrar fotos em uma tela ou na parede e não aquilo que o PowerPoint nos permite criar).
Enfim, é mais uma série brilhante da televisão americana que, na última década, assim como os publicitários de Mad Men, tem tido idéias sensacionais atrás de idéias sensacionais. Se há um defeito nessa 1ª temporada é um acontecimento bem inesperado no último capítulo que meio que me "derrubou da cadeira". Não vou contar para não estragar mas fiquei assim meio zonzo, e ainda estou para dizer a verdade... Mas nada que não seja facilmente apagado quando lembro do que veio antes.
Nota: 9 de 10
Toda essa atenção aguçou minha curiosidade e parti para comprar Mad Men. Definitivamente, a série é tudo isso que dizem sim e mais um pouco. Para começar, não há como deixar seu queixo cair pela inacreditável reconstituição de época. Não vivi os anos 60 mas já li e vi filmes sobre a época e parece-me que os produtores foram no alvo. O cuidado com a Nova Iorque e com o figurino dos personagens é suficiente para encher os olhos. O mesmo se dá com o tratamento de questões hoje polêmicas: o fumo, o feminismo, o comunismo, o consumismo e outras.
Sobre o fumo, cabe um parênteses. Para nós que, hoje, estamos acostumados a ver filmes assépticos, em que as pessoas nem reconhecem a existência de um objeto de consumo - e vício - chamado cigarro, assistir aos primeiros capítulos de Mad Men é uma experiência até, eu diria, estranhamente incômoda. Todos os personagens (ok, quase todos) fumam e fumam em qualquer lugar e em muita quantidade. Nada de sair de sua sala para ir ao fumódromo. Acende-se cigarros e mais cigarros em casa, no hall de elevadores, na sala de reunião e isso sem nem perguntar se a pessoa ao lado se incomoda. É tanto cigarro que a série parece feder a cigarro.
Mas o que chama atenção mesmo em Mad Men (uma brilhante brincadeira, aparentemente usada na época, com sua tradução literal - homens loucos - com Madison Avenue, onde ficavam as grandes agências de publicidade e com a expressão "ad men", publicitário) é a bem costurada estória que entrelaça a vida profissional e particular de seus personagens. Temos Don Draper, o brilhante publicitário com sua vida tipicamente americana. Trabalha na cidade grande mas mora na casinha de subúrbio com sua linda esposa (Betty Draper vivida pela bela mas comum January Jones) e dois filhos, ao mesmo tempo que tem uma amante com quem libera seus instintos, digamos, mais selvagens. Há seu chefe, Roger Sterling (vivido pelo excelente John Slattery) que odeia ficar com a esposa e arruma qualquer desculpa para farrear. Há, ainda, Pete Campbell (interpretado à irritante perfeição por Vincent Kartheiser), um riquinho que só conseguiu emprego por ser filho de quem é e que quer por que quer subir na vida, mesmo que para isso tenha que atropelar seus superiores com todas as jogadas sujas que puder esconder em suas mangas.
Mas o filme não é um "clube do bolinha" ainda que o ponto de vista seja majoritariamente masculino. Há a interessante personagem da esposa de Don Draper que vive com o dilema entre de um lado ser a modelo perfeita de esposa e, de outro, literalmente, ser modelo. Há, também, Joan Holloway (a também bela - e essa nada comum - Christina Hendricks), a fogosa chefe das secretárias que sabe tudo sobre todos no escritório. Por último e principalmente no elenco feminino, temos Peggy Olson (Elisabeth Moss, excelente) no papel da nova secretária de Don Draper que, completamente sem querer, vai rapidamente subindo na vida, para o espanto e inveja de todos ao redor, especialmente Joan Holloway.
Toda essa riqueza de detalhes vem emoldurando um passado negro para Don Draper e as excelentes campanhas publicitárias (e reuniões com clientes) que sua equipe vai criando ao longo dos episódios. Logo na abertura vemos Don e seu grupo matutando para criar a campanha nova do Lucky Strike (o cigarro, lembram?). Mais para frente, em ótimo e comovente episódio, vemos Don criar, quase que de instinto, a campanha do aparelho de slides da Kodak (slides, para quem é da era da informática, são aqueles positivos de fotos dentro de um quadrado branco de papel ou de plástico que eram usados em projetores para se mostrar fotos em uma tela ou na parede e não aquilo que o PowerPoint nos permite criar).
Enfim, é mais uma série brilhante da televisão americana que, na última década, assim como os publicitários de Mad Men, tem tido idéias sensacionais atrás de idéias sensacionais. Se há um defeito nessa 1ª temporada é um acontecimento bem inesperado no último capítulo que meio que me "derrubou da cadeira". Não vou contar para não estragar mas fiquei assim meio zonzo, e ainda estou para dizer a verdade... Mas nada que não seja facilmente apagado quando lembro do que veio antes.
Nota: 9 de 10
segunda-feira, 7 de setembro de 2009
Crítica de filme: The Hangover (Se beber, não case)
The Hangover pode ser traduzido simplesmente como A Ressaca. Mas, claro, algum "esperto" tinha que mandar uma tradução ridícula para ficar em sintonia com a campanha do "Se beber, não dirija". O título acabou não tendo nenhuma - absolutamente nenhuma - relação com o filme, até porque, diferente do que se pode imaginar, não é uma obra de comédia sobre casamento, mas sim sobre o que vem antes do casamento. Na verdade, o casamento é uma mera "desculpa", um trampolim para o roteiro.
Bom, reclamações à parte, The Hangover é uma ótima comédia estilo anos 90, na linha de There's Something About Mary (Quem quer ficar com Mary?). A premissa é muito simples mas, por incrível que pareça, original: quatro amigos vão passar a despedida de solteiro de um deles em Las Vegas e acordam no dia seguinte sem lembrar absolutamente nada do que aconteceu na noite anterior. O noivo sumiu, há um tigre no banheiro, um bebê no armário, um dente a menos na boca de um deles e a Mercedes vintage do pai da noiva que eles dirigiram até a cidade foi trocada por nada mais nada menos que uma viatura de polícia. Com o casamento chegando em menos de 24 horas os amigos saem desesperados pela cidade para reconstituir seus passos da noite anterior.
A reconstituição da noite anterior, na verdade, é uma sucessão de gags bem inteligentes e de chorar de rir. O diretor - Todd Philips de Road Trip e Old School - não parte para a solução fácil que seria o uso de flasbacks. Ao contrário, cada pedacinho da conturbada noite anterior é mostrado de forma diferente e sempre fluida dentro do roteiro.
Muitos reclamaram do filme por ele ser politicamente incorreto o tempo todo mas que, ao final, é exageradamente certinho. De fato, isso acontece em The Hangover. Mas sério, quem é que, num filme de comédia escrachada vai se preocupar com os últimos 3 minutos? O bacana é ver os amigos desesperados à procura do noivo, tentando descobrir porque raios há um tigre no banheiro e de quem é o bebê que chora no armário.
O principal, porém, é a revelação de Zach Galifianakis, no papel de Alan Garner, o irmão da noiva. Antes de The Hangover só o havia visto em G-Force (o tal filme dos porquinhos da índia que comentei aqui). Em G-Force, porém, o brilhantismo do cara para comédia ficou disfarçado debaixo dos efeitos especiais dos bichinhos. Em The Hangover, o filme é dele. Alan é gordo, nojento, barbado (parece o Joaquin Phoenix quando endoidou de vez) e com habilidade de comediante sutil que só precisa que você olhe para ele para morrer de rir. O personagem é o que há de melhor no filme e só por isso merece ser visto.
Mas o filme não é só Zach Galifianikis. Os demais também estão muito bem: Bradley Cooper é Phil Wenneck, o chefe do grupo e um professor de primário doido por oportunidades para galinhar; Ed Helms vive Stu Price, um dentista que vive com uma insuportável mulher dominadora e Justin Bartha vive Doug Billings, o noivo.
É claro que o impressionante - mas merecido - sucesso de The Hangover nos trará, queiramos ou não, The Hangover 2. Certamente será uma porcaria mas certamente fará dinheiro. No entanto, se uma continuação é o preço que temos que pagar para ter filmes bons, que assim seja.
Nota: 8,5 de 10
Bom, reclamações à parte, The Hangover é uma ótima comédia estilo anos 90, na linha de There's Something About Mary (Quem quer ficar com Mary?). A premissa é muito simples mas, por incrível que pareça, original: quatro amigos vão passar a despedida de solteiro de um deles em Las Vegas e acordam no dia seguinte sem lembrar absolutamente nada do que aconteceu na noite anterior. O noivo sumiu, há um tigre no banheiro, um bebê no armário, um dente a menos na boca de um deles e a Mercedes vintage do pai da noiva que eles dirigiram até a cidade foi trocada por nada mais nada menos que uma viatura de polícia. Com o casamento chegando em menos de 24 horas os amigos saem desesperados pela cidade para reconstituir seus passos da noite anterior.
A reconstituição da noite anterior, na verdade, é uma sucessão de gags bem inteligentes e de chorar de rir. O diretor - Todd Philips de Road Trip e Old School - não parte para a solução fácil que seria o uso de flasbacks. Ao contrário, cada pedacinho da conturbada noite anterior é mostrado de forma diferente e sempre fluida dentro do roteiro.
Muitos reclamaram do filme por ele ser politicamente incorreto o tempo todo mas que, ao final, é exageradamente certinho. De fato, isso acontece em The Hangover. Mas sério, quem é que, num filme de comédia escrachada vai se preocupar com os últimos 3 minutos? O bacana é ver os amigos desesperados à procura do noivo, tentando descobrir porque raios há um tigre no banheiro e de quem é o bebê que chora no armário.
O principal, porém, é a revelação de Zach Galifianakis, no papel de Alan Garner, o irmão da noiva. Antes de The Hangover só o havia visto em G-Force (o tal filme dos porquinhos da índia que comentei aqui). Em G-Force, porém, o brilhantismo do cara para comédia ficou disfarçado debaixo dos efeitos especiais dos bichinhos. Em The Hangover, o filme é dele. Alan é gordo, nojento, barbado (parece o Joaquin Phoenix quando endoidou de vez) e com habilidade de comediante sutil que só precisa que você olhe para ele para morrer de rir. O personagem é o que há de melhor no filme e só por isso merece ser visto.
Mas o filme não é só Zach Galifianikis. Os demais também estão muito bem: Bradley Cooper é Phil Wenneck, o chefe do grupo e um professor de primário doido por oportunidades para galinhar; Ed Helms vive Stu Price, um dentista que vive com uma insuportável mulher dominadora e Justin Bartha vive Doug Billings, o noivo.
É claro que o impressionante - mas merecido - sucesso de The Hangover nos trará, queiramos ou não, The Hangover 2. Certamente será uma porcaria mas certamente fará dinheiro. No entanto, se uma continuação é o preço que temos que pagar para ter filmes bons, que assim seja.
Nota: 8,5 de 10
Assinar:
Postagens (Atom)