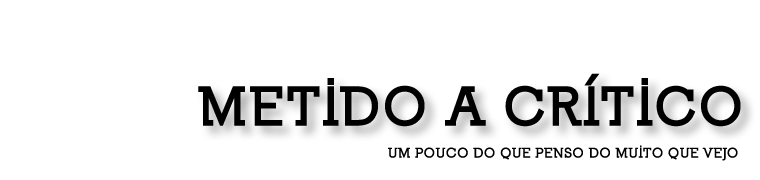Há três anos, no dia 28 de dezembro de 2005, eu e alguns amigos decidimos assistir, semanalmente, grandes clássicos do cinema mundial. Esse encontro ficou jocosamente conhecido como Club du Film. Como guia, buscamos o livro The Great Movies do famoso crítico de cinema norte-americano Roger Ebert, editado em 2003. Começamos com Raging Bull e acabamos de assistir a todos os filmes listados no livro (uns 117 no total) no dia 18.12.2008. Em 29.12.2008, iniciamos a lista contida no livro The Great Movies II do mesmo autor, editado em 2006. São, novamente, mais 100 filmes. Dessa vez, porém, tentarei fazer um post para cada filme que assistirmos, com meus comentários e notas de cada membro do grupo (com pseudônimos, claro).
Filme: The Grapes of Wrath
Diretor: John Ford
Ano de lançamento: 1940
Data em que assistimos: 21.01.2009
Crítica: The Grapes of Wrath é um filme de altos estratosféricos e de baixos abissais. Muito estranho mesmo.
Ele conta a estória de Tom Joad, vivido de forma magistral por Henry Fonda, que volta depois de 4 anos na prisão para sua casa em Oklahoma, logo após a Grande Depressão americana (a primeira...). Ao chegar em sua casa, encontra tudo abandonado, sem nenhum familiar, a não ser o chefe de uma outra família, em estado precário e se escondendo. Ao indagar o que aconteceu, Tom Joad descobre que todas as famílias da região, que são arrendatárias de seus terrenos sob o ponto de vista legal mas proprietárias sob o ponto de vista moral, estão sendo expulsas de suas terrras. Por sorte, Tom chega na véspera de sua própria família partir em busca da terra de plenitudes, a Califórnia. Durante a jornada, vemos a família Joad se despedaçando, junto com todos seus valores. É uma jornada bela mas tristíssima, arrimada na matrona da família Ma Joad, em um papel impressionante vivido por Jane Darwell.
A estória ia muito bem, com mortes, abandonos, brigas, numa clara projeção do que seria o futuro daquela família em frangalhos, em um país sem emprego para todos. Com dinheiro contado, ele são orgulhosos e recusam esmolas, querendo pagar pelo que comem. Tecnicamente, John Ford dá um show, com direção segura, um pouco em locação, um pouco em estúdio, mas sempre com uma fotografia em preto-e-branco de tirar o fôlego.
E esse é o auge do filme que, se continuasse no ritmo, mereceria uma nota altíssima.
No entanto, de repente, o filme descamba para um discurso comunista, mostrando a família chegando a um acampamento de sonho mantido pelo governo, em óbvia demonstração de como o Estado é algo importante (uma falácia, como todos sabemos hoje). Como se isso não bastasse, Tom passa a se tornar um pregador dos direitos dos mais fracos, iniciando, ao final do filme, um movimento sindical. Seu discurso de despedida é completamente inacreditável, artificial e forçado, como se o diretor tivesse se esquecido que estava adaptando um livro comunista e tivesse que enfiar o máximo de besteiras vermelhas no finalzinho.
Ok, ok. É bem verdade que sou um cara mais de direita e o tema comunismo me incomoda por si só. No entanto, acho Encouraçado Potemkin uma obra sensacional. O que mais me incomodou em The Grapes of Wrath foi a mudança brusca e desnecessária de estilo, tom e discurso ao final do filme somente, que foi mal feita ao extremo e de má vontade, quase como se tivessem colocado uma arma na cabeça de John Ford. Bom, talvez tenha sido isso mesmo pois Ford era de direita...
Notas:
Minha: 7 de 10
Kaatu: 7 de 10
Barada: 7 de 10