
Sou fã da série Fables de Bill Willingham, conforme vocês podem ver nos meus comentários aqui. Assim, nada mais natural do que eu ter ido atrás do spin-off do mesmo autor, batizado de Jack of Fables.
Jack é o João genérico do mundo do conto de fadas. Ele é, principalmente, João da estória de João e o Pé de Feijão mas, também, é o João (Jack) de Jack Frost e o João (Jack) de Jack O'Lantern, assim como de Jack the Giant Killer e outros, vários outros. Nos quadrinhos, ele foi introduzido logo na primeira estória como amante da irmã de Branca de Neve. A estória nos revela que ele é um pilantra, que só pensa em si próprio, em dinheiro e em mulheres, nessa ordem.
Com o aparente sucesso do personagem, Bill Willingham tratou de faturar em cima e criou uma série derivada contando as peripécias de Jack no mundo dos humanos normais. O primeiro volume, colecionando os fascículos 1 a 5 da série, nos mostra Jack logo após ser escorraçado pelos Fables por ter feito uma trilogia tipo "Senhor dos Anéis" contando suas próprias estórias para ficar milionário e poderoso (um Fable é proporcionalmente poderoso ao quanto os humanos normais lembram e gostam das estórias dele). A premissa dessa estória de Jack é muito bacana e muito bem feita.
O que vem em seguida não é tão bom assim. Jack passa a ser perseguido pelo misterioso Mr. Revise, que tem uma espécie de campo de concentração de Fables em pleno mundo dos humanos. Na coleção seguinte, chamada Jack of Hearts, Jack vai fazer fortuna em Las Vegas mas continua correndo de Mr. Revise. O mesmo ocorre no volume três, intitulado The Bad Prince, em que Jack é confrontado com a revelação de um segredo terrível: ele não é ele mesmo mas sim uma cópia (só lendo para entenderem). Ele passa esse volume quase todo trespassado por Excalibur!!! No volume quatro, chamado de Americana, Jack vai atrás desse tal lugar que dá nome à edição, só para ter que fugir de zumbis e de um outro cara mais maníaco que Mr. Revise.
Sei lá. Nessa série o autor parece ter perdido a mão. Até que os dois primeiros volumes são bacanas e seguram a onda. O terceiro e o quarto, porém, começam a desandar brabo, com estórias pouco pensadas, centradas demais no umbigo do personagem principal e sem o charme e a mágica da série principal.
Vou continuar a ler pois sou teimoso mas não tenho muitas esperanças que melhore. Talvez até eu esteja sendo muito rígido no comentário e comparando Jack of Fables com Fables mas eu pergunto: como não compará-los? Mesmo autor, mesmos personagens, mesmo ambiente, mesmo quase tudo.
Bom, contanto que Willingham não estrague a série principal, vale qualquer coisa.
Notas:
Volume 1 - 7 de 10
Volume 2 - 7 de 10
Volume 3 - 5 de 10
Volume 4 - 6 de 10
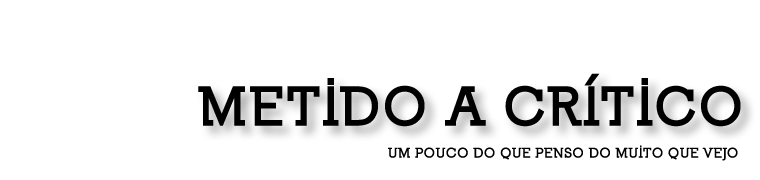
.png)











